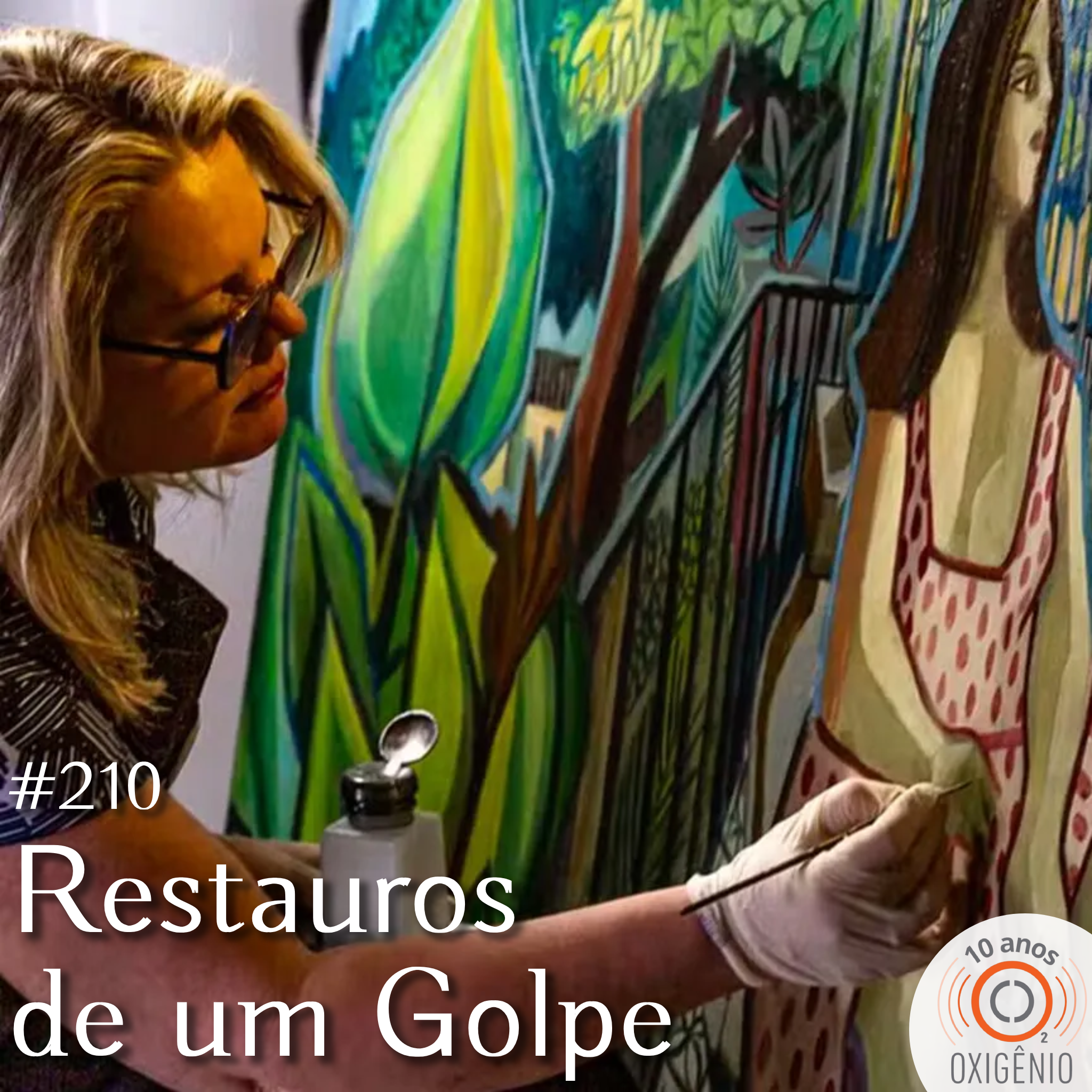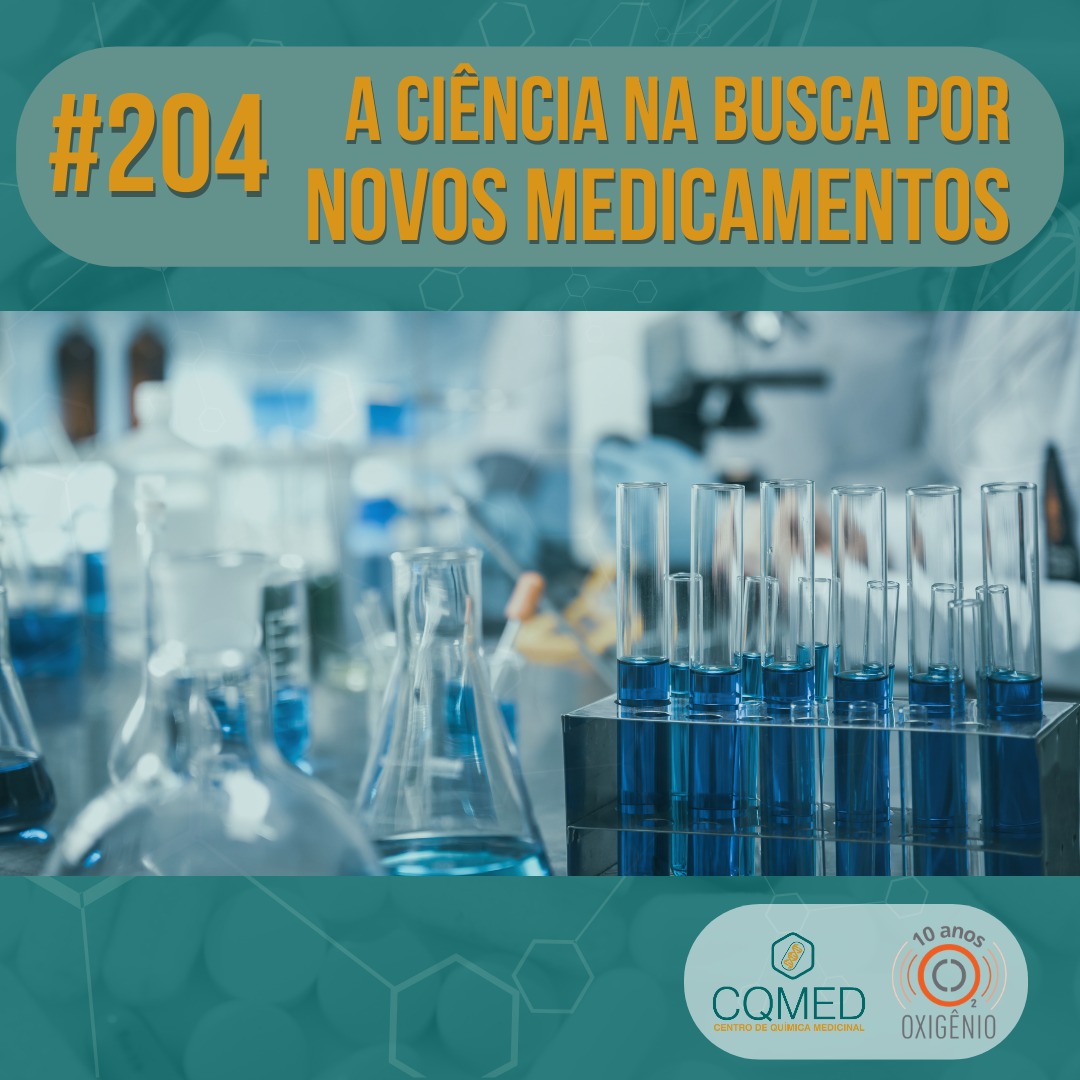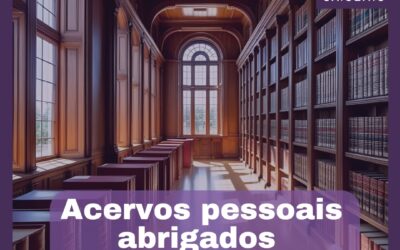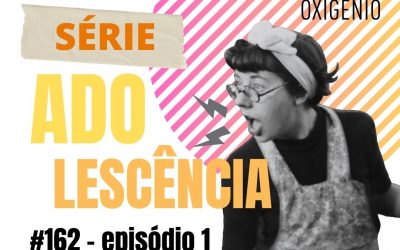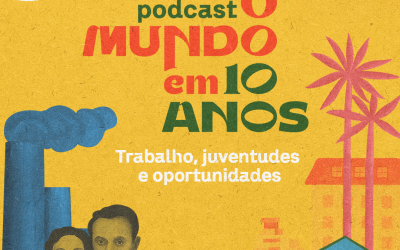Para celebrar os 10 anos do Podcast Oxigênio, tivemos a ideia de fazer episódios em parceria com outros podcasts. Este projeto começou com a parceria que fizemos com o podcast Café Com Ciência e neste episódio será com o podcast Vozes Diamantinas, uma produção do curso de Jornalismo do Campus XXIII da UNEB em Seabra, do estado da Bahia, que visa divulgar os saberes e as práticas culturais da Chapada Diamantina. Ao longo de 2025, teremos muitas parcerias boas, as próximas serão com os podcasts Vida de Jornalista, Fronteiras da Ciência e Ecoa Maloca.
Neste episódio especial vamos explorar como os hábitos alimentares brasileiros refletem nossa cultura, história, identidade e resistência. A alimentação será apresentada não apenas como fonte de nutrição, mas como prática cultural viva, carregada de significados, afetos e histórias.
Você vai ouvir relatos afetivos com a comida, como da Elizete Pereira, moradora da comunidade quilombola do Tejuco, em Brumadinho, Minas Gerais e da Larah Camargo, que nasceu em São Paulo, mas carrega a cultura alimentar das suas raízes familiares da Bahia, região da Chapada Diamantina. E vai escutar, também, entrevistas com especialistas, professores universitários, secretário de agricultura da cidade de Novo Horizonte e coordenadora-geral e coautora dos processos pedagógicos do Instituto Comida e Cultura. Eles irão abordar a formação da culinária brasileira, a partir das influências indígenas, africanas e portuguesas; a gastronomia territorial como uma forma de resistência e cuidado com a terra, com destaque para o papel das mulheres nas comunidades tradicionais da região da Chapada Diamantina; e a importância da educação alimentar desde a infância, como uma forma de reconexão com a terra e valorização cultural.
Neste episódio procuramos evocar a cozinha como espaço de encontro e resistência, reforçando a importância da recuperação de narrativas alimentares como forma de preservar a memória coletiva e a diversidade cultural brasileira.
Roteiro
[BG]
Lidia: “A farinha é feita de uma planta
Da família das euforbiáceas
De nome manihot utilíssima
Que um tio meu apelidou de macaxeira
E foi aí que todo mundo achou melhor” (Farinha, Djavan)
Lívia: Você já parou pra pensar que a mandioca é um dos alimentos mais representativos da culinária brasileira, é um dos mais versáteis também.
Lucas: A diversidade já aparece desde o seu nome.
Lívia: Aqui no sudeste nós chamamos de mandioca.
Lucas: Já aqui no nordeste e em algumas regiões do norte de “macaxeira” ou “aipim”.
Lívia: Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, mandioca-doce, mandioca-mansa, maniva, maniveira, pão-de-pobre, diferentes nomes e diferentes preparos, pra um ingrediente coringa da alimentação na mesa de todas as regiões do país.
Lucas: Nativa do Brasil, com a mandioca dá para fazer farinha, polvilho doce e azedo, fécula, goma, tucupi, tapioca e muito mais.
Lívia: E, pra degustar esse alimento típico do nosso país, e que é cultivado pelos indígenas desde antes da colonização portuguesa, você não precisa lembrar que a mandioca faz parte da família botânica das euforbiáceas e que seu nome científico é “Manihot utilíssima”, como o Djavan cantou na música “Farinha”, que a gente ouviu os primeiros versos lá no começo.
Lívia: Mas, caso tenha ficado a curiosidade, ela é “prima” da mamona, da seringueira, coroa-de-cristo – todas liberam aquela seiva leitosa de seus caules. Inclusive, a mandioca era classificada como ‘Manihot utilíssima’, mas hoje, o nome científico adotado é ‘Manihot esculenta’.
Lucas: Devidamente apresentada, nós destacamos sua importância como uma das grandes representantes do tanto de diversidade de plantas e alimentos que nós temos aqui no Brasil. Diferentes nomes, diferentes preparos e uma gama de possibilidades para uma alimentação saudável, popular e afetiva.
[Vinheta]
Lívia: Eu sou a Lívia Mendes, sou linguista e especialista em Jornalismo Científico pelo Labjor, e você já conhece aqui do Oxigênio.
Lucas: E eu sou Lucas Assumpção, estudante de Jornalismo da UNEB Seabra, na Chapada Diamantina, Bahia.
Lívia: Neste episódio, nós do Oxigênio.
Lucas: E nós do Vozes Diamantinas, queremos te convidar a refletir sobre como os nossos hábitos alimentares contam histórias, que revelam muito mais do que apenas escolhas de nutrição, elas falam também de cultura, memória e identidade.
Lívia: Lembrando que esse episódio é ainda mais especial, porque faz parte das comemorações dos 10 anos do Oxigênio Podcast. Em 2025, teremos muitas parcerias boas. Além desta com o Podcast Vozes Diamantinas, da Universidade Estadual da Bahia, nós já fizemos um episódio com o Café Com Ciência, da UNESP e as próximas serão com o Vida de Jornalista, com o Fronteiras da Ciência e com o Ecoa Maloca.
Lucas: Quem sabe teremos mais algum, não é?
Lidia: “Assim como a língua falada, o sistema alimentar contém e transporta a cultura de quem a pratica, é depositário das tradições e da identidade de um grupo” (Massimo Montanari, Comida como cultura).
Lucas: Formada por diferentes saberes, a cultura alimentar de um povo é um traço importante de pertencimento. Por meio da comida, transmitimos nossos valores econômicos, sociais, religiosos, étnicos e tantos outros.
Lívia: Tradições culinárias são patrimônios culturais valorosos, eles nos trazem memórias afetivas que são passadas de geração em geração.
Lucas: Como escreveu o folclorista e historiador brasileiro, Câmara Cascudo, no livro A História da Alimentação no Brasil: “é inútil pensar que o alimento contenha apenas os elementos indispensáveis à nutrição”.
Lívia: Os alimentos contêm muito mais do que isso.
Lucas: Eles possuem “substâncias imponderáveis e decisivas para o espírito, alegria, disposição criadora e o bom humor”.
Lívia: São essas “substâncias imponderáveis” que carregam cultura, história e tradição.
Julie Cavignac: Cascudo, na sua História da Alimentação, destaca a questão da alimentação portuguesa, o aporte português, do aporte indígena e do aporte africano. Essa questão dos hábitos alimentares, esses diferentes povos vão se misturar em alguns momentos, com o devir dessa história do Brasil.
Lívia: Essa que você ouviu é a professora Julie Cavignac, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela explicou pra gente que o historiador Câmara Cascudo analisou as contribuições que o cardápio indígena, a dieta africana e a ementa portuguesa tiveram na construção do sistema culinário popular brasileiro.
Lucas: Assim como a Língua Portuguesa falada no Brasil tem diferentes variedades de sotaques e de vocabulários e se constituiu da junção de influências indígenas, africanas e portuguesas, também a nossa culinária foi construída a partir dessas três culturas distintas.
Julie Cavignac: Seria, na verdade, essa síntese, entre essas diferentes tradições: portuguesa, indígena e africana, que daria esse paladar tão específico aos brasileiros.
Lívia: Além dessa camada histórica, Câmara Cascudo apresenta como um ato natural, que é o de se alimentar, pois sem os nutrientes da alimentação a gente não consegue sobreviver, foi transformado por nós em uma cerimônia, com expressões sociais e com rituais.
Lucas: Pensando sobre isso, o historiador fez a distinção entre “comida” e “refeição”.
Lívia: A “comida” é esse ato informal de nutrição, do cotidiano.
Lucas: E a “refeição” a ação coletiva, carregada de significado, comunitária e ritualizada.
[música de transição]
Larah Camargo: Eu cresci em São Paulo, mas minha avó, minha mãe, minhas tias, todo mundo, baiano. Tenho memórias muito claras de receitas muito tradicionais de lá, que sempre fizeram parte da nossa alimentação, dos nossos momentos de confraternização, como a ambrosia, acho que a ambrosia que a minha avó faz é o um exemplo que mais me vem fresco na memória, um doce à base de ovo, português.
Lívia: Essa é a Larah, uma amiga querida que estudou comigo no Labjor e enviou esse relato da vivência familiar que ela teve com a culinária da região da chapada diamantina. A Larah nasceu na cidade de São Paulo, mas toda sua família é do estado da Bahia, da cidade de Itaberaba. Os pais e os tios da Larah migraram pra São Paulo, nos anos 1970, e trouxeram com eles as tradições culinárias da região do nordeste.
Larah Camargo: As próprias farinhas. O cuscuz que vem da farinha do milho, as farinhas de mandioca que não tem comparação, também sempre muito presentes em todas as refeições. A farinha de puba que é a massa da mandioca fermentada, também um bolo que minha mãe sempre fez e que tá presente aí na minha memória. E a gente também passa a se conectar a partir dessa comida que eu começo a conhecer e que algumas eu também já conheci e já estavam nessa tradição familiar. É, e com certeza, esses momentos em família fortaleceram esses laços. A minha família é muito conectada à alimentação, à comida.
Lucas: Os relatos da Larah nos fazem lembrar como a alimentação faz parte da história que nos constitui: ela carrega histórias, fortalece identidades e conecta o presente às nossas raízes.
Lívia: As lembranças e as histórias de família, que são relacionadas à comida, fazem parte do entendimento de quem somos. Quando lembramos de nomes e sabores de pratos típicos ou modos de preparo e receitas que participamos quando éramos crianças ou jovens e que podem e devem ser transmitidos de geração em geração.
[Sons de feira livre com vendedores anunciando bananas]
Lívia: A Chapada Diamantina, a região de onde veio a família da Larah, fica no interior da Bahia. Um território que encanta por suas belezas naturais e potencialidades gastronômicas.
Lucas: Todo alimento que nutre é importante, mas para os chapadenses alguns pratos típicos como o Godó de banana, a farofa de garimpeiro e o cortado de banana dizem tanto do território quanto das montanhas que o formam.
Lívia: Por exemplo, o fruto da bananeira, com um grande potencial nutritivo, é base para diversas iguarias gastronômicas, como doces, vitaminas e salgados. Na região da Chapada o fruto adquiriu uma característica de ser sustento alimentar para diversas comunidades.
Elizete Pereira: Ela disse que chegou na comunidade vindo do pati, e aí ela conta que essa era a comida que o pessoal comia antes, por conta que não tinha outras coisas, e que muita gente não dava um pingo de valor pelo godó. Mas, aí depois, por ser a comida que as pessoas comiam antes, então o godó, ele foi criando, tendo valor. E hoje, o godó é servido nas comunidades, um prato muito valoroso.
Lucas: Essa que acabamos de ouvir é a Elizete Pereira, moradora do quilombo de Tejuco, comunidade localizada em Palmeiras. Elizete pede orientações para a dona Magnolia, uma das matriarcas do quilombo, para entender como se deu a chegada do prato àquelas terras. Ela conta que o Godó se tornou um prato receptivo dos convidados em momentos de festas, mas também compõem a rotina alimentar dos moradores no dia-a-dia.
Lívia: É um prato tradicional, cultural e até econômico. Na casa de Elizete Pereira o preparo é tradicional e simples.
Elizete Pereira: O godó de banana, pra fazer, a gente corta a banana, coloca a banana na água e depois prepara os temperos. Aí você pega um pouco de toucinho, pega também um pouco de carne, um pouco de calabresa e corta e depois frita esse toucinho, essa carne, essa calabresa, tudo nos temperos: no alho, na cebola, com pimentão, tempero verde, essas coisas assim. Aí coloca a banana pra cozinhar, coloca um pouco de água, coloca açafrão, cominho, todos esses tipos de tempero, coloca um pouco de cada um.
Lívia: Mulheres como a Elizete e a dona Magnolia são as responsáveis por manterem o conhecimento ancestral vivo, passando de geração em geração.
Gislene Moreira: Essas mulheres, ao longo da história, elas construíram isso a partir dos saberes dos povos indígenas, dos povos africanos, que também chegaram nessa região, a princípio escravizados e, hoje, formam um corredor ecológico de comunidades tradicionais: quilombolas, de remanescentes indígenas, de fundo e fecho de pasto. E essas comunidades preservam esses saberes e essa produção alimentar, que são fundamentais, não apenas para a segurança alimentar — e não apenas da Chapada Diamantina, mas de todo o semiárido —, mas também para a produção hídrica, para a segurança hídrica da região.
Lucas: A Gislene Moreira, que é professora da UNEB, comunicadora popular e pesquisadora da Chapada Diamantina, lembrou a gente que a gastronomia é também resistência, é cuidado com a terra, é defesa da água e da vida. E que as mulheres das comunidades tradicionais sustentam o equilíbrio entre o que somos e o que produzimos.
Gislene Moreira: Toda nossa gastronomia territorial, tipo godó de banana, o uso do licuri, os matos de comer — que hoje vão ser chamados de PANC’s — e que têm sido usados, inclusive, pela alta gastronomia, são saberes, inclusive medicinais, mas também de tecnologias de produção agrícola, em que a gente pode produzir alimento convivendo com a ecologia e os ecossistemas da Chapada Diamantina, ou seja, a gente consegue conviver com as serras produtoras de água e produzir também alimento.
Lívia: Pensar no contexto afetivo de pratos tradicionais implica pensar também na produção que acontece desde as colheitas. De modo a entender quem produz e as técnicas utilizadas para garantir um bom alimento.
Lucas: Em números de produção, a Bahia se qualifica como o segundo maior produtor de banana no Brasil, tendo a cidade de Bom Jesus da Lapa como um polo de destaque no plantio da bananeira, com métodos desde o tradicionalismo da agricultura familiar até a agricultura irrigada.
Lívia: É interessante notar que quase 98% da produção nacional é voltada ao mercado interno, de acordo com a Secretaria da Agricultura.
Wender Oliveira: Temos uma produção diversificada, mas a banana e o alho, elas se destacam como as principais culturas do nosso município. A banana é de suma importância na realidade do agricultor, hoje, aqui em Novo Horizonte. Nós produzimos em torno de 3.500 toneladas por ano, o que injeta diretamente na economia local mais de 8 milhões de reais por ano. Então, é um valor bem significativo pra renda dos agricultores daqui de Novo Horizonte. E também, essa produção também é escoada para as cidades circunvizinhas, nas feiras locais e também pras cidades como Vitória da Conquista, Feira de Santana, Seabra, entre outras.
Lucas: Esse que acabamos de ouvir é o Wender Oliveira, Secretário de Agricultura da cidade de Novo Horizonte, também na Chapada Diamantina. Ele relata como o cultivo da banana potencializa a renda dos agricultores e agricultoras da região, em especial na comunidade rural de Brejo e Luiza de Brito.
[Música de transição]
Lívia: Agora um minutinho, vamos ouvir a chamada do nosso parceiro Prato de Ciência.
[propaganda prato de ciência]
[vinheta]
Lívia: Um dos traços mais marcantes da era moderna é a capacidade que nós, seres humanos, temos de cultivar e cozinhar os alimentos, diferente do que acontecia no Período Paleolítico, quando as pessoas comiam caças e frutos que eram achados pelo caminho.
Lucas: Mas, apesar de ser uma atividade indispensável para nossa sobrevivência, cada vez mais, nós delegamos essa tarefa para outras pessoas e acabamos perdendo a intimidade com o cozinhar e o plantar.
Ariela Doctors: Eu me pergunto às vezes, com essa alimentação globalizada, toda empacotada, qual será essa memória afetiva cultural que a gente vai ter nas vidas dessas crianças que estão nascendo agora? Elas vão lembrar do quê? Da PepsiCo, da Panco? Assim, elas vão lembrar de pacotes, elas não vão lembrar do cheiro de canela do bolo da vovó, não vão lembrar do cheiro da pamonha ou de alguém em casa fazendo. Esse voltar a cozinhar é muito importante. Por isso que a gente acredita no alimento como um objeto é imprescindível, um objeto para ser utilizado dentro das escolas, dentro dos currículos, dentro dos projetos políticos pedagógicos das escolas desde a primeira infância.
Lívia: Essa que você ouviu agora é a Ariela Doctors, coordenadora-geral e coautora dos processos pedagógicos do Instituto Comida e Cultura. A Ariela é comunicadora, escritora e chef de cozinha e ela contou pra gente sobre os projetos que o Instituto Comida e Cultura tem colocado em prática, desde 2021, aqui no Brasil.
Lucas: O Instituto Comida e Cultura é uma organização da sociedade civil e promove a alimentação saudável e o fortalecimento das culturas alimentares por meio da educação emancipatória e decolonial.
Lívia: As pessoas que estão envolvidas no projeto acreditam que o alimento pode nos conduzir a uma sociedade mais sustentável. Uma das principais atuações do Instituto é a formação de educadores, para promover a conscientização sobre os sistemas alimentares e seus impactos na saúde, sociedade e meio ambiente.
Ariela Doctors: Dentro da nossa linha pedagógica, vamos dizer assim, a gente criou uma formação, que a gente chama de Cozinhas e Infâncias, e aí a gente tem duas versões dela, o Cozinhas e Infâncias cidades e o Cozinhas e Infâncias territórios.
Lucas: O projeto Cozinhas e Infâncias Cidades atende metrópoles maiores, como a cidade de São Paulo, onde o alcance precisa ser maior.
Ariela Doctors: Por exemplo, aqui em São Paulo a gente consegue trabalhar com toda a rede municipal. É um formato que fala sobre educação alimentar. Então, a gente conseguiu chegar em um professor de cada EMEI de São Paulo em 2023. Depois, em 2024, em uma cozinheira escolar dessas mesmas escolas. A gente brinca que a gente quer tornar as escolas comestíveis, né?
Lívia: O projeto Cozinhas Infâncias Territórios, foi pensado para municípios menores, com menor número de habitantes.
Ariela Doctors: Desde o início, a gente consegue ter um olhar mais voltado para práticas dos territórios e para alimentação dentro dos biomas.
Lucas: A Ariela explicou que em São Paulo também são trabalhados os biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, mas nas cidades menores as condições são mais diversas, para que apareça mais alimentos diferentes e diversificados.
Lívia: Uma outra experiência que traz à tona essa questão da diversidade dos recursos naturais são as hortas coletivas, como uma alternativa de ocupação do espaço público.
Lucas: No livro lançado recentemente, Comida Comum, a nutricionista Neide Rigo comenta sobre uma desconfiança que ela tem sobre a origem dessa prática de plantar nos espaços públicos das grandes cidades, como a cidade de São Paulo.
Lívia: Para a Neide, esse movimento veio dos guardas de rua, que geralmente são migrantes de outros estados e trouxeram um pouco das suas ancestralidades das roças para os espaços urbanos.
Lucas: A gente sabe que a maior parte dos alimentos que consumimos vêm da terra. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 80% do que a gente come vêm das plantas.
Lívia: Mas, hoje em dia, muito pouca gente tem contato direto com a terra e isso nos faz afastar de hábitos alimentares que fazem parte da nossa identidade cultural.
Lucas: Por isso, a educação alimentar na infância e a utilização dos espaços públicos para plantação, para além de aprendermos a cultivar alimentos, nos traz uma lição de cidadania, de convivência com as diferenças e nos aproxima de nossos territórios.
Ariela Doctors: Ao ensinar a cozinhar, você pode não só falar de tudo isso que a gente tá falando aqui nesse podcast, como você aproxima a criança, você dá visibilidade para criança dos processos, que foram invisibilizados para gente, né? A gente não sabe mais como é que é feito uma folha de papel, esse computador que eu estou falando com você ou a gente não conhece mais nenhum processo, a gente terceiriza todos os processos, e a alimentação idem. Então, muitas crianças hoje em dia acham que o peixe nasceu num pedaço de isopor, no mercado plastificado, que a cenoura não saiu da terra, e você usar o alimento como objeto desse entendimento, é uma coisa lúdica, simples e fácil.
[música de transição]
Lidia: “E o Elisiano caprichava de cortar e descascar um ramo reto de goiabeira, ele que assava a carne mais gostosa, as beiras tostadas, a gordura chiando cheio. E o Fonfredo cantava loas de não se entender, o Duvino de tudo armava risada e graça, o Delfim tocando a viola, Leocádio dançava um valsar, com o Diodolfo; e Geraldo Pedro e o Ventarol que queriam ficar espichados, dormindo o tempo todo, o Ventarol roncasse – ele possuía uma rede de casamento, de bom algodão, com chuva de rendas rendadas…” (Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa)
Lívia: Esse trecho que você ouviu é do livro Grande Sertão: Veredas, do autor mineiro Guimarães Rosa. A história do livro se passa no sertão brasileiro, na área que corresponde a parte dos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás, onde estão as nascentes do Rio Urucuia, que o narrador Riobaldo menciona repetidas vezes.
Lucas: A obra, que é um marco da literatura brasileira, enfatiza a relação do ser humano com seu espaço. Como a gente ouviu no trecho narrado, a cozinha no romance não é só um espaço onde o alimento é produzido, mas onde acontece um momento de união e fraternidade entre o grupo. Sentar-se em torno da fogueira para se alimentar, conversar e refletir após dias guerreando dá àqueles homens um novo sentido de vida e um novo estímulo para seguir viagem.
Ariela Doctors: Então, falando em estereótipos na culinária brasileira, a gente tem aí uma coisa bastante arraigada, bem pejorativa, em relação a alimentação dos povos originários ou dos povos africanos e que a gente, pelo contrário, mostra como várias tecnologias ancestrais desses povos são utilizadas até hoje na alimentação e são muito importantes para a alimentação do povo brasileiro, né?
Lívia: Na literatura, nos relatos, na memória dos mais velhos, na força da ancestralidade, é aí que buscamos as vozes que, por tanto tempo, foram caladas. Porque outras narrativas sempre podem existir.
Lucas: E, talvez, seja justamente na comida, nos modos de preparo, nos sabores que resistem ao tempo, que mora parte de quem somos. As histórias, os territórios e os temperos que nos formam seguem vivos, mesmo quando esquecidos. Recuperar essas narrativas é também lembrar quem somos e de onde viemos.
[Música de transição]
Lucas: O podcast “Vozes Diamantinas” é uma produção do curso de Jornalismo do Campus XXIII da UNEB em Seabra, Bahia, e visa divulgar os saberes e práticas culturais da Chapada Diamantina.
Lívia: Nós do podcast Oxigênio, aqui do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, o Labjor, agradecemos em especial à professora Juliana Almeida, coordenadora do podcast Vozes Diamantinas e a todos os integrantes pela parceria.
Lívia: O roteiro desse episódio foi escrito em conjunto por nós do Oxigênio.
Lucas: E por nós do Vozes Diamantinas.
Lívia: Aqui do Oxigênio, eu, Lívia Mendes e o colega Thiago Ribeiro produzimos o roteiro e realizamos as entrevistas. A revisão foi feita pela nossa coordenadora Simone Pallone. Os trabalhos técnicos são de Daniel Rangel. A narração é de Lidia Torres.
Lucas: Aqui do Vozes Diamantinas as colegas Taciere Santana e Marta Matos foram responsáveis pelo roteiro e realização das entrevistas. A revisão foi feita pela coordenadora Juliana Almeida.
Lívia: O Oxigênio conta com apoio da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Você encontra a gente no site oxigenio.comciencia.br, no Instagram e no Facebook, basta procurar por Oxigênio Podcast.
Lucas: O Vozes Diamantinas é veiculado à Rádio UFS/FM e está no YouTube e Spotify.
Lívia: A vinheta do Oxigênio é do Elias Mendez. A arte da capa é da artista visual Mayara Nardo, que pesquisa o universo da pintura e das feiras livres no Brasil. Nas redes sociais, você encontra os artistas como @eliasmendez, Mendez com “z”, e @mayaranardo, mayara com ‘’y’. As trilhas sonoras são do Freesound. Obrigada por nos escutar e nos encontramos no próximo episódio!
[trilha final]
Referências
CASCUDO, Câmara. A História da Alimentação no Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967.
DJAVAN. Farinha. Milagreiro. Epic, 2001.
MONTANARI, Massimo. Comida como cultura. São Paulo: Senac, 2008.
RIGO, Neide. Comida Comum. São Paulo: Ubu Editora, 2024.
ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.