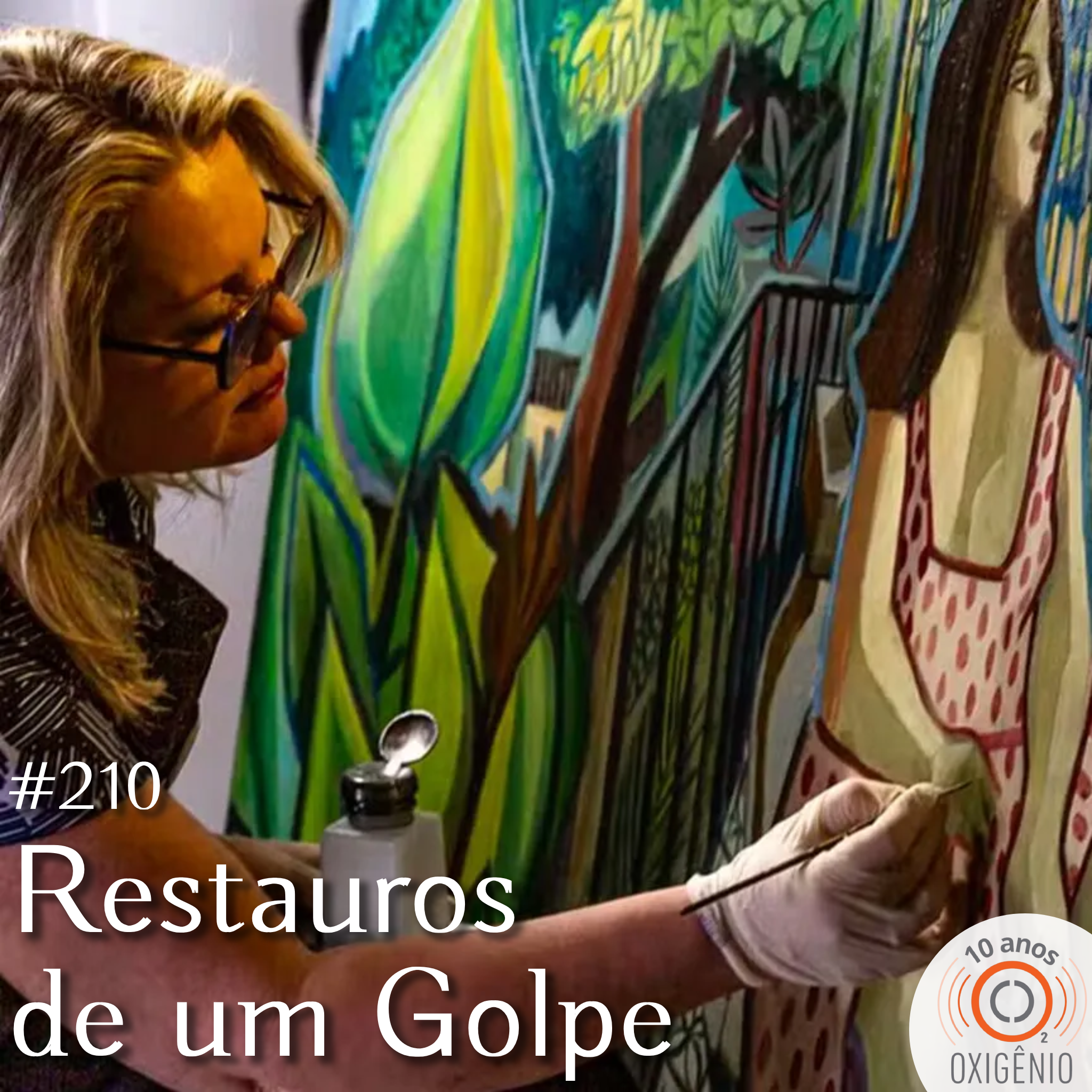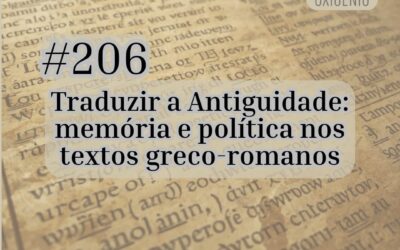Este é o primeiro episódio de uma série que a pesquisadora Liniane Haag Brum desenvolveu para o Oxigênio. Trata-se da divulgação de um conjunto de documentários produzidos pelo cineasta Ugo Giorgetti, que foram tema de estudo de um pós-doutorado que Liniane desenvolveu no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da Unicamp, intitulado: “Contra o apagamento, o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti”.
Neste episódio nossos ouvintes vão conhecer um pouco sobre os documentários “Pizza”, de 2005 e “Em busca da pátria perdida”, de 2008. Os dois próximos serão: “Variações sobre um quarteto de cordas” e “Santana em Santana”.
Acompanhe aqui a série!
_______________________________________
[Trilha sonora do documentário “Pizza”]
Liniane: O cineasta Ugo Giorgetti é conhecido por abordar a cidade de São Paulo em sua obra. Um dos seus filmes mais conhecidos é “Boleiros – Era Uma Vez o Futebol”. O longa-metragem apresenta histórias de um grupo de ex-jogadores que se reúne em um boteco paulistano e relembra glórias e fracassos da profissão. A produção é de 1998 e tem a participação de nomes como Denise Fraga e Lima Duarte.
A filmografia de Ugo Giorgetti conta com 31 títulos, entre longas-metragens ficcionais, documentários e peças audiovisuais de não ficção de formatos variados.
Mas, como o diretor continua em atividade, esse número não para de crescer.
Nesse episódio, iremos tratar de uma parte pouco explorada da obra de Giorgetti, – o perfil documentarista desse importante diretor brasileiro.
Meu nome é Liniane Haag Brum, sou doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp e realizei a pesquisa de pós-doutorado “Contra o apagamento – o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti” também na Unicamp, no Labjor, com o apoio da Fapesp.
Essa pesquisa surgiu da descoberta de uma lacuna. Percebi que não havia nenhum estudo sobre a obra de não ficção de Giorgetti. Apesar de ela ser tão expressiva quanto a sua ficção, e mais extensa.
Lidia: E eu sou a Lidia Torres, sou doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp e especialista em Jornalismo Científico pelo Labjor, também na Unicamp. Atualmente pesquiso memórias e oralidades, e também produzo documentários. Eu colaborei com o roteiro desse podcast e vou apresentá-lo junto com a Liniane.
Vamos trazer um recorte desse estudo. Ou seja, vamos apresentar dois filmes que fazem parte da pesquisa: os médias-metragens “Pizza” e “Em Busca da Pátria Perdida”. Em outro episódio traremos mais dois, acompanhe o Oxigênio para não perder.
Lidia: Você lembra que bem no início do episódio a gente afirmou que Ugo Giorgetti aborda a cidade de São Paulo em sua obra? Só que afirmar isso é um pouco “chover no molhado”. Que o cineasta retrata a metrópole em sua obra, muita gente sabe, o que poucas pessoas sabem é sobre quais os procedimentos e recursos de linguagem ele usou pra tratar o conteúdo dos documentários, trazendo toda a complexidade da capital paulista.
[Vinheta Oxigênio]
Liniane: Pra começar, vamos de “Pizza”?
[Trilha sonora do documentário “Pizza”, do Maestro Mauro Giorgetti]
Sabe aquele documentário que coloca o espectador aos poucos dentro da narrativa? “Pizza” é assim.
Ele inicia com dona Amélia Baraglia, que sempre morou no bairro da Mooca:
“Pizza”: Tinha um senhor, chamava César, o nome dele. E ele fazia pizza no fundo do quintal dele, ele tinha um forno à lenha, ele fazia pizza. Fazia um pizzinha assim, um pouquinho maior que o brotinho, mas era uma delícia a pizza dele. Aí ele enchia uma lata enorme de alumínio, com as pizzas uma em cima da outra; ele tinha um pano branco que era a coisa mais branca que eu vi na minha vida, ele jogava no ombro, punha aquela lata no ombro e saia nas ruas para vender pizza.
Liniane: O que esse depoimento desperta na gente é mais do universo afetivo e sentimental. Mas, aos poucos esse tom muda, fica mais direto, sem nunca perder a subjetividade do relato:
“Pizza”: A pizza da Castelões não é uma pizza de massa grossa, a massa é extremamente fina no centro, a única coisa, o que diferencia, é que a borda dela é alta, é uma borda que cresce. Isso é uma pizza tipicamente napolitana, de onde venho, a nossa receita.
Liniane: Esse que você acabou de ouvir é o Fabio Donato, dono da Castelões e neto de Vicente Donato, que fundou a pizzaria. Castelões talvez seja a cantina mais antiga da capital paulista. Ela foi inaugurada em 1924, no bairro do Brás, onde se concentrava parte dos imigrantes italianos que viviam em São Paulo.
Lidia: Logo no começo do documentário também tem o depoimento da Cibele Freitas, uma das sócias da pizzaria chamada A Tal da Pizza:
“Pizza”/Cibele Freitas: A Tal da Pizza é uma pizzaria diferenciada em primeiro lugar pela qualidade de seu produto, que é um produto escolhido por nós, os proprietários que fazemos as compras. Além da massa, que é receita e segredo da família, essa linguiça também era uma receita do meu avô e que era feita por ele até quando ele faleceu e hoje é feita por uma prima da minha mãe, que deu continuidade. Hoje a gente já desenvolveu né, a gente brinca que é como se fosse um blend, é um blend na verdade que é o segredo aonde naquele segredo é misturado a massa.
Lidia: A Tal da Pizza tem unidades no Itaim Bibi e na Granja Viana, bairros nobres localizados no oeste da capital paulista. Ela foi criada com o propósito de reproduzir um ambiente aconchegante e íntimo, onde os clientes pudessem servir-se e comer sem o atendimento de garçons, ao som de um piano e de músicas suaves.
Lidia: Além da Castelões e da Tal da Pizza, Ugo Giorgetti e sua equipe estiveram em estabelecimentos espalhados por outros seis bairros: Heliópolis, Centro, Mooca, Belenzinho, Jardim Paulista e Jardim Ângela.
[Som de tráfego de cidade grande: buzinas, carros e ruídos de fundo diversos.]
Liniane: O documentário fez um verdadeiro passeio por São Paulo. Entrevistou pizzaiolos, gerentes e proprietários de pizzarias, entregadores e até clientes. Por isso, parece óbvio concluir que o documentário é sobre pizza: como é feita, suas origens, os tipos e sabores. Inclusive se você pesquisar na internet, talvez encontre a seguinte sinopse:
“A cidade de São Paulo é o pano de fundo deste documentário em que o tema é a especialidade da culinária paulistana, a pizza”.
[Música “Funiculí, Funiculà”, de Francesco Daddi, 1906.]
Lidia: Pois é, “Pizza” dá a entender, no começo, que seu principal assunto é, justamente, a pizza.
Liniane: Só que a pizza é apenas um pretexto para que o documentário trate das contradições da cidade, de suas desigualdades, diversidade e cosmopolitismo. Eu conversei com Ugo Giorgetti sobre esse e o outro filme que esse episódio vai tratar. Ele me explicou o seguinte:
Ugo Giorgetti: Olha, eu tô sempre à procura de temas, temas que tenham algum significado na vida, né, na sociedade, e que também se originem dela. Porque que não adianta eu fazer alguma coisa absolutamente extravagante, que não se relaciona com nada, com o real. São certas coisas assim que você não dá nenhuma importância, a história do cotidiano mais vulgar, que no fundo são importantes. Então a pizza é isso, eu sempre achei que ela era uma coisa que você podia falar dela, sem precisar falar sobre todo mundo, sem precisar dar lições de sociologia: essa região assim, essa região assado, essa região come assim ou come assado. A pizza resolve todos esses problemas. E além do que ela te proporciona uma visão de certos lugares da cidade. Vários lugares da cidade, não certos, vários.
Lidia: Agora você vai ouvir o Raimundo Vieira de Oliveira, proprietário da Pizzaria Copan, que fica no Edifício homônimo, localizado no centro de São Paulo. O prédio foi projetado por Oscar Niemayer e uma de suas principais características é abrigar um número imenso de moradores em 1.160 apartamentos. Escuta só:
“Pizza”: Eu inventei uma pizza, a pizza Viagra, que é muito boa. Que o composto dela, os ingredientes, que é mussarela, ovo de codorna, amendoim, champignon; são produtos, são ingredientes afrodisíacos. E realmente faz um sucesso aqui. Ugo Giorgetti: Vem cá, você inventou essa pizza especialmente no Copan, tem alguma ligação aí? Raimundo: Não, só foi por causa da novidade do remédio que foi lançado aqui no Brasil, acabei lançando essa pizza que foi um sucesso.
Lidia: Faltou informar que “Pizza” é uma produção de 2005. Isso para dizer que Raimundo Vieira de Oliveira foi entrevistado lá em 2004, OK?
[Efeito sonoro de carros trafegando]
Liniane: A câmera de Giorgetti também registrou Heliópolis, bairro de aproximadamente 1 milhão de habitantes situado no sudeste de São Paulo, no distrito de Sacomã. Lá o Alexandre Tadeu Pinto, conhecido como Cuca e dono da pizzaria Mestre Cuca, contou para o diretor que inventou uma pizza chamada Larica.
“Pizza”: Porque o pessoal, principalmente os jovens hoje, falam nossa eu tô na larica, né. Tá na maior fome, precisa de uma pizza legal. Aí eu botei vários ingredientes. E fico legal, pegou.
Liniane:O diretor do documentário conversou com Celso Ferreira Alves, pizzaiolo da Pizzaria do Cuca, para saber mais sobre a invenção culinária:
“Pizza”: Ugo Giorgetti: E a pizza larica? Celso Ferreira Alves: Larica é boa. Povo só come quando tá na larica mesmo. Ugo Giorgetti: Como é que é? Celso Ferreira Alves: Ela vai bastante coisa, é mussarela, milho, bacon, palmito, catupiry e calabresa e presunto. O que tem na pizzaria, vai tudo nela. Quando sai uma aqui na pauleira é o maior trabalho, viu!
Lidia: Mas a conversa não parou por aí. Ouvindo o diálogo, a gente percebe que o diretor documentou os modos de fazer a pizza, mirando nas histórias de vida das pessoas. Outro trecho da conversa de Ugo Giorgetti com Celso Ferreira Alves, o pizzaiolo da Pizzaria do Cuca, revela como os modos de fazer a pizza, dizem também sobre os diversos modos e motivos de ser morador de São Paulo.
“Pizza”: Ugo Giorgetti: Você veio pra São Paulo por que? Celso Ferreira Alves: Por causa da falta de desemprego né. Na Bahia não tem emprego pra gente, né. Tem a roça, só. E a roça você trabalha lá e não ganha um dinheiro bom, né. Trabalha um dia na roça maior quente pra ganha 7 real o dia. O dia inteiro. Não dá! Só pra família da gente que é acostumado, os pai da gente. Aí eu falei: ah, pai, vou pra São Paulo. Aí eu vim e deu certo”.
Lidia: O Francisco Lira, pizzaiolo da Pizzaria Copan, também contou para o realizador sobre sua chegada em São Paulo, e o que ela tem a ver com pizza:
“Pizza”: Francisco Lira: Vim do Pará pra cá em 96, aí comecei numa pizzaria. Como ajudante de cozinha. Ugo Giorgetti: No Pará você tinha alguma coisa? Francisco Lira: Não, eu gostaria de ser caminhoneiro quando vim para São Paulo, entendeu, mas aí um amigão meu que trabalhava em pizzaria fez o convite. Aí eu não tinha nenhuma profissão, aí eu fui trabalhar né.
Liniane: Pizzaria Ideal, Pizzaria do Angelo, Camelo, Veridiana, Pizzaria Ibitirama, Farol Pizza Bar, Pizzaria Bella Torre, San Marco Pizzaria e Pizzaria Tropical: não apenas locais onde se faz e consome pizza. Um verdadeiro mosaico de modos de vida, mentalidades e sotaques da maior cidade brasileira…
Liniane: E o inusitado…
Liniane: A sequência que encerra o documentário não foi registrada numa pizzaria. Ela foi captada à porta de uma penitenciária, em um sábado de manhã, dia de visita aos detentos. Dessa vez não teve entrevista, só imagens e ruídos de sons da cena. Na fila de espera, parentes e amigos de pessoas encarceradas fazem seus pedidos a um rapaz. Ele anota tudo e repassa a informação para a pizzaria, via celular. O motoqueiro chega com a encomenda.
Lidia: O final de “Pizza”: uma mulher e uma menina pequena entrando no presídio, pizza em mãos, o portão se fecha atrás delas.
Ugo Giorgetti: Quer dizer, a pizza atravessa a cidade até a prisão. Ela atravessa tudo, nada escapa dela. Uma unanimidade pizza em São Paulo.
Liniane: São 56 minutos andando dentro da cidade. Com humor, ironia e um olhar para a desigualdade refletida nas dinâmicas e relações sociais.
[Trilha do documentário “Pizza”, assinada por Mauro Giorgetti].
[Silêncio prolongado]
Breve intervalo:
Liniane: Agora espere um minutinho, que já voltamos.
Bruno: E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Bruno Frank e estou passando aqui pra convidar você pra escutar o podcast “Sabiá – inteligência artificial a brasileira, que também é realizado aqui na Unicamp, a partir do Centro de Pesquisa Aplicada Bios. No podcast, a gente descomplica Inteligência Artificial e também discute algumas questões éticas e sociais envolvidas com matemática. Espero vocês por lá. Valeu!
[Bloco 2: documentário “Em Busca da Pátria Perdida”]
Lidia: Ao contrário de “Pizza”, o filme “Em busca da pátria perdida” se concentra em apenas um bairro paulistano: o Glicério, na região central. É lá que fica a Paróquia Nossa Senhora da Paz, mais conhecida como Igreja da Paz. O Ugo Giorgetti contou sobre a sua origem:
Ugo Giorgetti: Quem construiu essa igreja foram imigrantes italianos, que conseguiram o dinheiro com milionários italianos que anteriormente eram imigrantes. Então é uma igreja belíssima, belíssima, belíssima. Com afrescos maravilhosos, com grandes esculturas lá dentro, fantástica
Lidia: Esqueci de mencionar que essa fala do realizador é de um depoimento gravado durante o período em que ele foi artista residente no Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, em 2018.
Lidia: Voltando ao Glicério e à paróquia. As paredes dessa igreja são cobertas por afrescos criados por Fulvio Pennacchi, artista ítalo-brasileiro nascido na Toscana. Ele integrou o Grupo Santa Helena, coletivo de pintores modernistas oriundos de classes populares que nas décadas de 1930 e 1940 influenciaram os rumos da arte paulista. Pennachi trabalhou nesses murais entre 1942 e 1945. Para você ter uma dimensão do tamanho da obra: no altar principal, por exemplo, há um Cristo Crucificado com mais de seis metros de altura.
[Som de coro de igreja. Fonte: documentário “Em busca da Pátria Perdida”]
Liniane: A história da igreja da Paz se confunde com a história do Glicério. De 1920 a 1940, a região enfrentou um processo de urbanização intensa, com a chegada de italianos, portugueses e, depois, migrantes nordestinos. Assim como o bairro passou de reduto de imigrantes italianos, no início do século XX, a área de acolhimento a migrantes brasileiros, a partir das décadas de 1940 e 1950, a igreja também se adaptou aos novos fluxos populacionais. Ela também se manteve como ponto de referência para moradores atingidos pela necessidade da migração involuntária, dentro da própria América Latina.
[Voz de padre rezando no idioma italiano. Fonte: documentário “Em busca da Pátria Perdida”]
Liniane: Giorgetti explica isso em sua entrevista:
Ugo Giorgetti: Bom, os italianos acabaram, a igreja italiana acabou. É só uma segunda, terceira, quarta geração que faz uma missa todo o primeiro domingo do mês lá na Igreja da Paz, chamada Missa Italiana. Mas os padres da Igreja da Paz resolveram já há muitos anos, há muitos anos, não parar de ser uma igreja que recebe imigrantes. Então ela começou a receber imigrantes da América inteira. Tem sobretudo bolivianos, paraguaios, tem argentinos também, em menor número, chilenos também, o menor número. E eles são uma igreja do acolhimento. Isso me deixou muito interessado, fazer esse documentário. Os bolivianos e os latino-americanos, pelo menos os bolivianos, principalmente os paraguaios, tem uma figura toda especial, né. Mas tem uma missa brasileira também, de imigrantes de dentro do Brasil. É uma missa de domingo às sete horas da noite, só de brasileiros que vieram de outras regiões do país e que ficam ali pelo Glicério.
Lidia: Para realizar “Em Busca da Pátria Perdida”, o diretor foi até a Igreja da Paz e registrou três missas. A primeira, celebrada na língua italiana e dirigida aos descendentes de imigrantes. Provavelmente filhos, netos e bisnetos das pessoas que atravessaram o Atlântico para trabalhar nas lavouras de cafés do interior de São Paulo.
A segunda, uma celebração em espanhol destinada a imigrantes sobretudo da América Latina: “bolivianos, paraguaios, peruanos e uns poucos chilenos”, nas palavras de Giorgetti.
A terceira, que aparece na última parte do documentário, é uma missa para os brasileiros celebrada em português
[Voz de padre rezando missa em português. Fonte: documentário “Em busca da Pátria Perdida”
Liniane: Dessa vez, Ugo Giorgetti não usou o recurso da entrevista. “Em busca da pátria perdida” é uma peça audiovisual em que as pessoas retratadas não se manifestam verbalmente. Não há depoimento, não há nem mesmo diálogos captados entre os fiéis. A locução também não foi um recurso utilizado.
A verdade é que esse documentário poderia ser classificado como etnográfico. Isso pode soar estranho para quem acompanha a obra do diretor, tão marcada pelo humor.
Você talvez esteja se perguntando o que é um documentário etnográfico…
Lidia: O documentário etnográfico é aquele que investiga grupos sociais, culturas e modos de vida. Tradicionalmente, está ligado ao campo da Antropologia. Ele funciona como um retrato observacional, em que o diretor evita interferências, permitindo que os próprios personagens e suas interações revelem aspectos de sua vida real.
Liniane: O professor de teoria e crítica literária da Unicamp, Alcir Pécora, no entanto, vê “Em busca da pátria perdida” sob outra perspectiva:
Alcir Pécora: É incrível aquele documentário, porque ele vai mostrando as pessoas que chegam ali na missa, mas tem também as expressões, as pessoas que ele escolhe, todas elas são absolutamente incomuns. Ele faz um diálogo invisível entre o que o padre fala na oração, na pregação, e as pessoas que estão ali presentes. Esse jogo de imagens entre as pessoas que assistem e o sermão que o padre fala é incrível, pura poesia.
Liniane: O professor Pécora acompanha há tempos a produção de Giorgetti e organizou um livro com a obra literária do diretor, que se chama “Era uma vez o futebol”. É um volume de 436 páginas em que estão compiladas as colunas do cineasta publicadas no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, entre 2014 e 2020, e as crônicas que ele escreveu para o site Ultrajano, de 2020 a 2023, além de contos inéditos. Eu conversava com ele sobre esse livro, e aproveitei a oportunidade para lhe perguntar sobre os documentários de Giorgetti.
Essa fala dele é significativa porque ajuda a revelar um aspecto de “Em busca da pátria perdida”: a influência do literário. Quando o professor diz – abre aspas – “Esse jogo de imagens entre as pessoas que assistem e o sermão que o padre diz“, o que ele aponta é a preponderância da forma no documentário.
Lidia: O que isso quer dizer? Isso significa que o jeito com que o média-metragem é apresentado não é dado essencialmente pelo conteúdo abordado, mas pelo modo como esse conteúdo é mostrado e tratado.
Agora, independente do modo como “Em busca da pátria perdida” é analisado, se pelo viés realista, ou seja, etnográfico, ou pela perspectiva da forma; o vínculo com a literatura é explícito.
Liniane: O título do documentário foi inspirado na obra do escritor francês Marcel Proust, “Em busca do tempo perdido”. Ugo Giorgetti revelou esse dado em das entrevistas que realizamos em off, ou seja, sem registro de áudio ou vídeo. Depois, quando lhe consultei sobre usar essa informação nesse podcast, ele aceitou, mas fez uma autocrítica severa:
Ugo Giorgetti: É claro que é isso mesmo, só podia ser tirado desse famoso, desse monumento da Literatura que é o Proust. Mas não faria isso de novo não. Acho isso uma baixeza, uma vulgaridade. Você pode ver que agora todo cara entrevistado, todo cara entrevistado pela televisão atrás dele tem uma estante. Num certo sentido eu fiz isso também botando o nome desse negócio de “Em busca da pátria perdida”. Os caras vão falar: pô, acho que ele leu Proust, hein! É trágico, seu eu pudesse eu mudava o nome desse troço.
Lidia: Essa perspectiva do autor é logicamente válida. Ela revela a avaliação do artista sobre o seu trabalho, a posteriori. E vale ressaltar a generosidade do cineasta, ao compartilhar isso com a gente. Por outro lado, quem assiste ao documentário como público leigo ou com olhar de especialista, pode ter outra visão.
Liniane: Para Alcir Pécora, a relação de Giorgetti com a literatura é muito clara:
Alcir Pécora: Ele é realmente um leitor muito sistemático. E é fácil de perceber quando você vai lendo. Você vai vendo como ele facilmente vai colocando essas citações, mas não como uma coisa de colocar erudição ou de parecer intelectual. Nada disso. Aquilo cai porque é a perspectiva com que ele vê, porque está assimilado. Ele tem muito essa naturalidade da observação.
Liniane: Bem, o fato é que alusões, citações e referências a outros textos, seja na escrita textual, seja na escrita fílmica, podem ser um jeito de despertar o espectador para um livro, para um autor ou para uma questão que nunca antes ele tinha pensado. E isso mesmo à revelia da intencionalidade do artista.
Não é o caso da transcrição de um excerto da obra “Os Grandes Cemitérios Sob a Lua”, do escritor francês George Bernanos, no final de “Em busca da pátria perdida”. Dessa vez, a alusão literária é deliberada.
Daniel: “Companheiros desconhecidos, antigos irmãos, um dia chegaremos juntos às portas do reino de Deus. Tropa exausta, tropa exaurida, embranquecida pelo pó das nossas estradas, rostos amados e duros, cujo suor não consegui secar. Olhos que viram o bem e mal, cumpriram sua missão. Assumiram a vida e a morte, ó olhos que jamais se renderam. Assim eu vos encontrarei de novo, irmãos de outros de outros tempos, tais quais vos sonhei em infância. Pois eu tinha partido ao vosso encontro, corria em vossa direção.”
Liniane: Você acabou de ouvir o trecho de “Os Grandes Cemitérios Sob a Lua” transcrito em “Em busca da pátria perdida”.
Lidia: Publicado em 1938, esse livro pode ser lido como um alerta aos perigos do totalitarismo. Ele aborda a violência fascista durante a Guerra Civil Espanhola. A gente pode inferir que esse trecho é uma alusão às migrações decorrentes de guerras, ditaduras e mazelas sociais e econômicas. Como as eu fizeram com que imigrantes e migrantes chegassem às missas da Igreja da Paz, no Glicério, na capital paulista.
Liniane: Ou seja, mais uma marca do vínculo com a literatura.
[Silêncio]
Liniane: No campo dos estudos sobre a linguagem, a discussão sobre a influência da literatura no documentário, e vice-versa, é atual. As possíveis análises de “Em busca da pátria perdida” acabam refletindo esse debate.
Vale trazer uma fala de Vitor Soster, doutorando do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Em entrevista concedida a mim para o projeto de divulgação da pesquisa de pós doutorado, Vitor destaca que, abre aspas, “obras literárias e filmes de ficção vêm, cada vez mais, se aproximando do não-ficcional, e etnografias, relatos históricos e filmes documentais (comumente associados à não-ficção) vêm progressivamente se aproximando da ficcionalização”. Fecha aspas.
[Vinheta de encerramento do Oxigênio]
Lidia: A gente viu neste episódio que tanto “Pizza” quanto “Em Busca da Pátria Perdida” vão além de documentar com humor ou de registrar antropologicamente. Ambos são peças que documentam, sim, mas sem abrir mão de narrar, tratar temas contemporâneos com poesia, investigar e, acima de tudo, dar espaço para o espectador fruir.
Liniane: Um dado importante: a apresentação dos documentários não é cronológica, viu? A gente reproduz, aqui no podcast, o método usado na minha pesquisa de pós doutorado. Ou seja, o método da montagem. Isso quer dizer que os documentários são articulados a partir de traços disruptivos, e não de acordo com o ano de produção, em ordem crescente.
No próximo episódio você vai ser apresentado a “Variações sobre um quarteto de cordas” e “Santana em Santana”.
Lidia: O roteiro desse episódio foi escrito pela Liniane Haag Brum, que também realizou as entrevistas. A narração de um trecho de “Os grandes cemitérios sob a lua”, de autoria de Georges Bernanos, é de Daniel Faria. A revisão do roteiro foi feita por mim, Lidia Torres, que também apresento o episódio, e pela Simone Pallone, coordenadora do Oxigênio.
Liniane: A pesquisa de pós-doutorado teve orientação do professor Carlos Vogt, e seu resultado é objeto de meu trabalho no âmbito do Programa Mídia Ciência, do Labjor, com supervisão da Simone Pallone. As reportagens referentes à divulgação de “Contra o apagamento, o cinema de não ficção de Ugo Giorgetti”, foram publicadas no dossiê “Ugo Giorgetti” da Revista ComCiência, que você pode ler na página da ComCiência. A gente vai deixar o link e a ficha técnica dos documentários na descrição do episódio.
A trilha sonora é de Mauro Giorgetti, irmão do cineasta que cedeu os direitos para o podcast.
Lidia: A edição foi feita pela Caroline Cabral e a vinheta do Oxigênio é do Elias Mendez.
Liniane: Este episódio tem o apoio da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência, da Unicamp e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, por meio de bolsas e também da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.
Lidia: Você encontra a gente no site oxigênio.comciencia.br, no Instagram e no Facebook, basta procurar por Oxigênio Podcast. Todas as referências utilizadas também podem ser encontradas na nossa página na internet. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Esperamos você no próximo episódio.