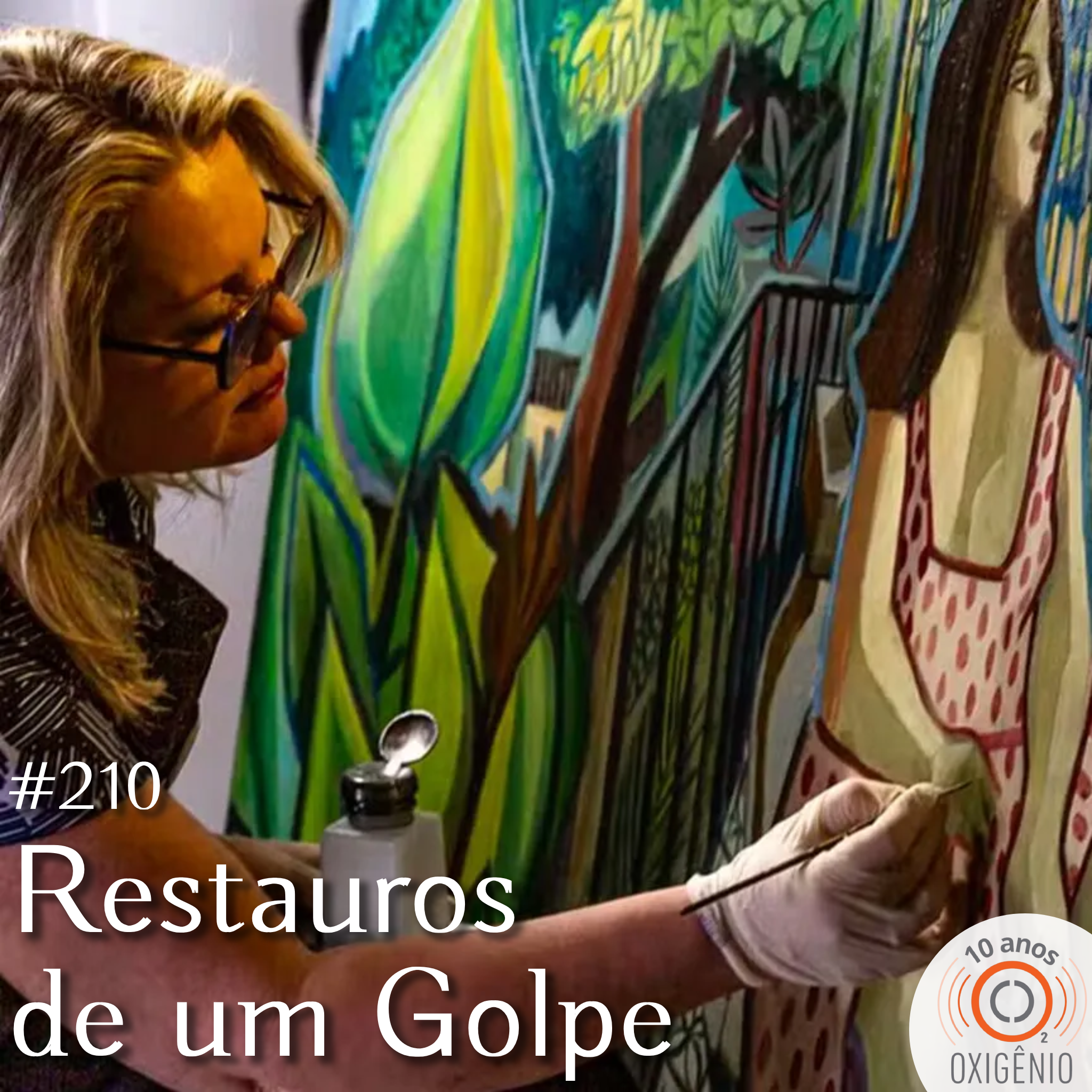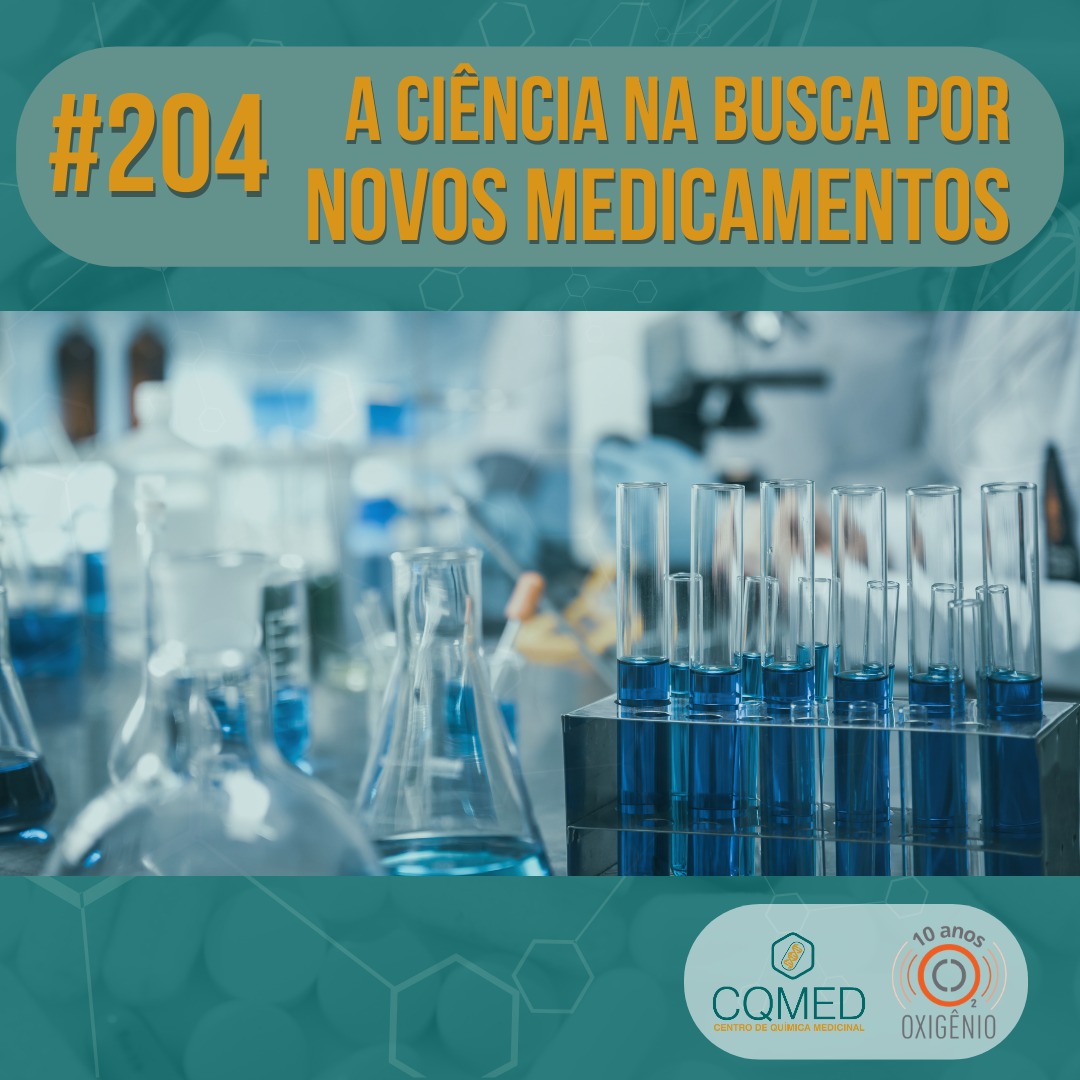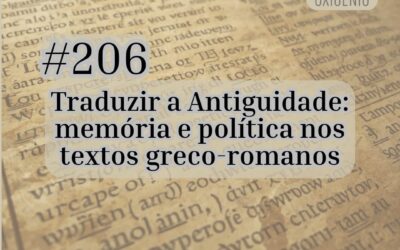Decrescimento econômico? Será isso mesmo? Em um mundo onde a busca pelo aumento do Produto Interno Bruto (PIB) parece ser a única meta, é importante questionar se essa lógica realmente atende às necessidades humanas e ambientais. Neste episódio, o Oxigênio vai explorar o conceito de decrescimento econômico, uma proposta que desafia a ideia de que mais sempre é melhor, e nos apresenta alternativas para repensar a nossa relação com o consumo, a natureza e a sociedade. A partir de entrevistas realizadas com as pesquisadoras Juliana Vicentini e Sabine Pompeia, dos professores Luiz Marques e Paulo Wolf e da profissional de comunicação Cristina Pens, a equipe de egressos do curso de Jornalismo Científico nos conta o que está por trás dessa ideia e como ela pode nos ajudar a construir um mundo mais equilibrado e consciente.
________________________________________
Roteiro
Maria Vitória: Imagine um mundo em que todas as pessoas têm maior qualidade de vida, em que há igualdade social, as pessoas precisam trabalhar menos. Um mundo no qual o ser humano vive em paz e onde a natureza é preservada. Parece utópico? Impossível? Algo que nunca aconteceria?
Marcos Ferreira: Agora, imagine um outro mundo, no qual temos a capacidade de produzir mercadorias em níveis recorde. Entretanto, nesse mundo de enorme produtividade, a desigualdade só aumenta. Esse cenário parece distópico, mas ele é a realidade em que nós estamos vivendo.
Maria Vitória: A pesquisa realizada pelo Instituto Tecnologia e Sociedade concluiu que metade dos brasileiros está muito preocupada com o meio ambiente e quase 70% deles acreditam que o aquecimento global pode prejudicar muito as suas vidas. Embora haja essa inquietude coletiva, estamos imersos em um modelo econômico que cria demandas de consumo, que visa o lucro, que degrada o meio ambiente, e é socialmente injusto. Mas será que essa lógica faz sentido?
Marcos Ferreira: Fomos ensinados que a única maneira para um país ou para a economia se desenvolverem é crescendo. Só que o crescimento da economia significa produzir mais. E, para produzir mais, é preciso explorar mais ainda o meio ambiente. Será que crescer de tal maneira é a única opção? Será que não existe uma outra forma de desenvolvimento? Ou mesmo, será que existem saídas para as atuais crises globais?
Maria Vitória: Eu sou a Maria Vitória.
Marcos: E eu sou o Marcos Ferreira, e juntos vamos explorar o contraste entre o capitalismo praticado hoje em dia e o movimento político, social e econômico chamado de decrescimento.
Para embasar essa conversa e desvendar algumas das questões relacionadas ao capitalismo, convidamos o Paulo José W. Wolf, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Paulo, quais são as premissas do capitalismo e como elas se relacionam com o crescimento econômico?
Paulo Wolf: Eu diria que o capitalismo é um sistema de organização da vida social que é movido em última instância pela busca do ganho privado. O neoliberalismo, por sua vez, é uma forma de funcionamento desse sistema de organização da vida social. O neoliberalismo se baseia em um entendimento sobre como esse sistema funciona e quais são as suas consequências. Segundo esse entendimento, a busca do ganho privado leva como que por uma “mão invisível” ao ganho social. Então, nesse sentido, todos vão ter o suficiente para si e para os seus, desde que se esforcem para isso. Nesse contexto, na visão do neoliberalismo, há pouco espaço para a intervenção do Estado via políticas públicas.
Então, num capitalismo neoliberal, a gente tem o capitalismo agindo de acordo com a sua própria lógica. A intervenção do Estado é muito reduzida. Entretanto, penso eu, essa é uma visão equivocada. A busca do ganho privado não leva necessariamente ao ganho social. O que a gente vê, na prática, é justamente o contrário. Esse sistema capitalista é pródigo, antes de tudo, em privar, em excluir, em segregar, em discriminar, em destruir. Então, nesse contexto, a intervenção do Estado via políticas públicas é fundamental para assegurar que todas as pessoas tenham condições de atender suas necessidades fundamentais e viver uma vida digna.
Marcos: O que é o Produto Interno Bruto, o PIB, e porque muitos economistas dizem que ele sempre precisa crescer? E como o capitalismo é associado ao PIB?
Paulo Wolf: Consolidou-se o entendimento de que o progresso no capitalismo, ele pode ser medido pela produção de bens e serviços e é justamente isso o que o PIB mostra. O PIB, ele é o valor de todos os bens e serviços produzidos em um determinado país, em um determinado momento. Dessa forma, quanto maior for o PIB, maior a produção de bens e serviços e, consequentemente, nesse entendimento, maior é o progresso no capitalismo. Logo, quanto maior o PIB, maior a produção de bens e serviços, maior o progresso do capitalismo. Por isso que alguns economistas dizem que ele precisa crescer porque se ele estiver crescendo, essa é uma medida de que um país está progredindo.
Marcos: Outra consequência desse sistema econômico atual é que ele destrói a natureza. E quem falará sobre isso conosco, hoje, é Luiz Marques. Ele é professor aposentado e pesquisador colaborador do Departamento de História da Unicamp. Ele publicou diversos livros e artigos sobre as relações entre o capitalismo e o colapso ambiental. Luiz, se tivesse que definir quão grave é a emergência socioambiental e climática que estamos vivenciando hoje, o que diria?
Luiz Marques: Bom, em poucas palavras, o que nós podemos dizer é que nós temos, efetivamente, uma emergência global, que é da ordem de um desastre planetário e que inclui, ao meu ver, três grandes dossiês: a questão do sistema climático, a questão do colapso da biodiversidade, a meu ver a aniquilação da biodiversidade, e o problema da poluição. E esses três grandes dossiês estão muito fortemente interrelacionados e agem sinergicamente, ou seja, eles se reforçam reciprocamente. Há formas de mensurar esses três grandes dossiês. Um deles é aquilo que o Potsdam Institute for Climate Impact Research tem proposto, que é, então, os nove limites planetários, que são colocados em três níveis: um nível de segurança, um nível de risco crescente e um nível de risco seguro. E desses nove limites planetários, ou fronteiras planetárias, foram propostos em 2009, em 2009 havia três limites ultrapassados, depois em 2015 havia quatro limites ultrapassados e agora, recentemente em 2023, estamos falando de seis ou sete limites ultrapassados. O único deles que foi mantido, que foi considerado um sucesso, foi a contenção do assim chamado buraco na camada de ozônio. Os demais estão claramente em degradação.
Maria Vitória: Quais são os principais fatores que levaram a essa situação?
Luiz Marques: Bom, basicamente nós vivemos uma civilização que se caracteriza por dois traços inaugurais ou fundadores. O primeiro é o fato de que nós dependemos muito fortemente da queima de combustíveis fósseis. Há uma diferença brutal entre, de um lado, aquilo, que nós éramos antes da queima de combustíveis fósseis em grande escala. A produtividade do trabalho era basicamente a mesma no século 18 e no século 1. E a segunda questão é que a descoberta, de como manipular essa molécula, hidrocarboneto, nos levou à possibilidade de uma expansão contínua. Isso já estava inscrito no modo expansivo da sociedade ocidental desde o século 16, mas a conjunção exatamente desse modo expansivo com a possibilidade de potenciar em várias ordens de grandeza a nossa produção e consumo de energia levou a uma sociedade, uma civilização que nós podemos chamar expansivo e termo fóssil. Ela é ao mesmo tempo expansiva e ela pode ser expansiva exatamente porque ela tem uma reserva de energia muito grande ainda possível de ser explorada. A grande questão é que isso esbarra exatamente com as possibilidades do próprio planeta. Até meados do século 20, isso não era uma evidência. Era apenas uma evidência nos círculos mais restritos, digamos assim, da ciência. A partir dos anos 70 e 80, quando há uma última onda de globalização, nós percebemos claramente que a gente entrou num processo de contradição cada vez mais antagônica entre o modo de funcionamento da civilização e a capacidade que o sistema Terra tem de permanecer estável dentro desse modo.
Marcos: É, parece que não dá para a economia apenas expandir e crescer sem parar, porque ela depende de recursos naturais, que são finitos. Esses podem ser compreendidos justamente como limites planetários, e nós já estamos ultrapassando alguns desses limites.
Para saber mais sobre o contexto Brasileiro, conversamos também com a pesquisadora Juliana Vicentini, doutora em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, a USP, que nos contou um pouquinho de como esse modelo predatório tem ocorrido na prática.
Juliana Vicentini: Podemos pensar criticamente sobre a insustentabilidade deste crescimento sem limites a partir de um setor específico, o agronegócio. O agronegócio produz commodities que são produtos básicos não industrializados relacionados à agricultura e à pecuária, a exemplo da soja (seja em grão, farelo ou óleo), milho, carne e minérios. O Brasil figura-se como um dos países que mais produz e exporta commodities e que importa produtos industrializados, ou seja, estamos inseridos no mercado internacional em uma condição, diria, subalterna. Os custos ambientais desse modelo de produção ficam no Brasil, e olha que não são poucos. Em virtude de uma demanda de commodities exponencial em todo o mundo, nos últimos 30 anos houve uma redução de 33% de áreas nativas no Brasil. Elas deram lugar à expansão da fronteira agrícola, sobretudo, nos biomas Cerrado e Amazônia. A fragmentação, degradação e desmatamento da floresta geram redução ou extinção da biodiversidade, assoreamento de corpos d´água, erosão e contaminação do solo, emissão de gases de efeito estufa, afetam a temperatura e o regime de chuvas. O uso intenso de substâncias químicas como agrotóxicos e fertilizantes utilizados para otimizar a produção e combater pragas, trazem prejuízos para a saúde dos seres vivos e contaminam o meio ambiente. A geração e gestão adequada de resíduos sólidos também é um grande desafio. Pensa na contradição: o atual modelo do agronegócio degrada o meio ambiente e simultaneamente, é o segmento que mais é prejudicado em virtude das mudanças climáticas. Então, essa insustentabilidade sistêmica, enraizada na economia capitalista baseada no PIB, que é impulsionada pelo crescimento, precisa ser repensada.
Marcos: De forma um pouco diferente do que foi apresentado até aqui, existem algumas pessoas que defendem uma visão mais positiva para o nosso futuro. Pautados em uma esperança de que as novas tecnologias e desenvolvimento científico poderiam ser maneiras de combater os problemas do esgotamento de recursos naturais, e superar as crises contemporâneas, defendem que a produção e o PIB não terão que diminuir, e sim poderão continuar aumentando. Mas, será mesmo que as novas tecnologias podem resolver os nossos problemas econômicos e socioambientais?
Luiz Marques: Então nós temos que entender que a tecnologia até agora tem sido sobretudo uma alavanca para o agravamento da crise e não para a solução dessa crise. Ela faz parte do problema ao invés de fazer parte da solução. Não quero dizer com isso que a tecnologia não seja necessária. Claramente nós temos cada vez mais necessidade de evolução tecnológica, mas o problema é que a tecnologia até agora tem sido utilizada, tem sido pensada como uma alavanca para o aumento da produtividade do trabalho. E isso não é exatamente aquilo que nós precisamos. Muito pelo contrário, nós precisamos diminuir as nossas taxas, os nossos índices de produção e consumo de energia e a tecnologia só pode ser útil se ela atender a essa questão. Ou seja, se ela for capaz de diminuir o impacto antrópico sobre o sistema Terra. Em todos os outros casos contrários, ela só prejudica ainda mais esse processo de crise planetária.
Maria Vitória: Quem respondeu foi Luiz Marques. A questão da tecnologia é crucial para entendermos o impacto da atividade humana no meio ambiente, assim como o tamanho da população e quanto ela consome.
Existe até uma fórmula para expressar o impacto ambiental, e ela pode ser feita multiplicando apenas 3 coisas:
- O tamanho da população humana;
- O nível de consumo desta população;
- E a tecnologia, isto é, os processos usados para obter recursos naturais e transformá-los em bens e resíduos.
Marcos: Ou seja, um modelo econômico baseado no crescimento contínuo da economia medida pelo PIB é utópico, uma ilusão, que temos todos aceitado como algo perfeitamente lógico e natural.
Ao mesmo tempo, normalmente consideramos que um mundo mais justo, igualitário, no qual a sociedade vive em harmonia com o meio ambiente, de maneira a sustentar a vida como a conhecemos em nosso planeta é que seria uma utopia, impossível de ser atingida.
Só que isso ignora a maioria da história humana, na qual a humanidade não vivia em função da produção infinita de capital e de mercadorias, sem outra saída ou alternativa possível.
Aqui, nós questionamos então por que um mundo no qual se utiliza e explora apenas o necessário, não poderia ser justamente o concreto, o real, o que queremos e confiamos ser possível construir?
Maria Vitória: Mas como chegamos a isso? Há dois fatores a serem considerados. O primeiro é o que o filósofo e ativista inglês Mark Fisher chamou de ‘realismo capitalista’. É a aceitação generalizada – tanto explícita quanto tácita – de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável e, portanto, é impossível imaginar qualquer alternativa a este sistema.
Marcos: Segundo Fisher, o realismo capitalista não é causado unicamente por conta da ideologia e das propagandas de ideário neoliberal que dominam a nossa imaginação nos dias de hoje. É como se existisse uma atmosfera generalizada, que nos condiciona não apenas a produção dos objetos de cultura, como filmes, músicas, narrativas, exposições, mas também a regulamentação do trabalho e da educação, agindo como uma espécie de barreira invisível que restringe o pensamento e a ação das pessoas, inviabilizando o início de qualquer movimento contrário a essa lógica capitalista.
Maria Vitória: Outra questão associada a esse pensamento capitalista neoliberal é a ideia da meritocracia. De que o dinheiro e o sucesso são obtidos pelo próprio mérito.O economista e ativista grego Yanis Varoufakis, crítico ao neoliberalismo, fala sobre isso, e como este sistema tem resultado em conflitos sociais. O economista comentou sobre isso em uma entrevista ao podcast Eye of the Storm.
Yanis Varoufakis [com tradução de Rafael Brandão]: Não há nada mais fácil para a mente humana que começar a desenvolver a convicção de que nós merecemos todos os bens que temos, que considerar que qualquer coisa que acumulamos, seja uns discos em uma coleção de discos, seja uns trilhões de dólares, considerar isso merecidamente nosso. E é também muito fácil, ao mesmo tempo, se não temos nenhuma propriedade, que comecemos a odiar aqueles que têm.
Primeiramente, não merecemos o que temos. Se você tem algo, digo para minha filha, se tem um iphone ou laptop, isso é acidente do seu nascimento. Se você nascesse em outra família, poderia não ter as mesmas coisas, não tem nada a ver com você merecer essas coisas. Ao mesmo tempo, odiar quem tem muito mais do que você está aquém do ponto central.
O ponto é que vivemos numa sociedade que é gritantemente ineficiente em distribuir pedaços das coisas que produzimos coletivamente; é grosseiramente ineficiente em manter o equilíbrio entre a humanidade e o meio ambiente. Então, efetivamente, vivemos num mundo idiota e, se é para ficarmos com raiva de algo, não devíamos ficar com raiva de quem quer tirar o que temos, ou quem tem mais do que nós. Devíamos ficar com raiva da estupidez do sistema.
Devíamos estar trabalhando juntos para desenhar um sistema melhor; um sistema que está mais sincronizado com o fluxo e refluxo do espírito humano.
Marcos: Existem propostas alternativas a esse modelo econômico, só que elas não são muito discutidas e nem divulgadas, pois a gente aceita que o capitalismo é a única forma de organizar a economia e a vida social.
Uma forma de se distanciar dessa lógica, que visa apenas a produção e o acúmulo de bens, pode ser, justamente, parar de considerar o PIB como uma medida de desenvolvimento de uma nação, já que existem outros fatores que podem ser muito mais relevantes para determinar se uma sociedade está saudável, justa, e desenvolvida.
Mas, quais poderiam ser outras formas, que não o PIB, para avaliar o desenvolvimento? Quem nos ajudou a responder essa questão foi, novamente, o professor Paulo Wolf:
Paulo Wolf: Existem aqueles que defendem que ao invés do PIB a gente deve medir a felicidade. Eu acho essa via possível, mas com limitações. Afinal, o que é a felicidade? Como as pessoas medem a sua felicidade? Ou seja, sempre vai ter aqui um componente subjetivo. Então, por isso eu tenho preferência a outros indicadores que são mais objetivos. Então, por exemplo, a pobreza monetária, ou seja, as pessoas que não têm recursos suficientes para viver. Esse é um exemplo de indicador possível. Portanto, as pessoas que não têm acesso, ou que têm acesso precário, a educação, a saúde, a alimentação, ao cuidado, à habitação, ao saneamento, ao transporte, ao lazer, à cultura, todos esses são indicadores possíveis dessa pobreza material. Outro indicador interessante, a desigualdade material e monetária, segundo determinados critérios, por exemplo, segundo gênero, segunda idade, segundo raça e etnia, segunda origem. Outro indicador interessante: o emprego em condições de trabalho dignas. Aqui eu me refiro à remuneração, à estabilidade, à jornada de trabalho, à saúde, à segurança e à higiene no local de trabalho. Outros indicadores também estão mais relacionados à questão ambiental.
Então, por exemplo, sobre a contaminação do ar, da água, do solo, sobre a demanda de recursos por unidade de produto produzido, o consumo de recursos esgotáveis, os finitos, o avanço do desmatamento das queimadas, da casca e da pesca predatória, a redução da biodiversidade, a evolução do aquecimento do planeta, a ocorrência e a intensidade dos fenômenos extremos, o avanço do derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar. Então, todos esses são indicadores que mostram onde nós estamos em relação a onde nós gostaríamos de estar, no sentido de assegurar que todas as pessoas possam atender às suas necessidades fundamentais, viver uma vida digna em um ambiente saudável.
Maria Vitória: Uma forma alternativa de pensar a sociedade foi proposta por um movimento chamado “decrescimento econômico”. Este movimento foi inspirado no pensamento do economista romeno Nicholas Jorgescu-Reigan nos anos 70. O termo decrescimento surgiu originalmente na França e, em francês, a palavra decrescer tem também outro sentido: significa “desenchente”, isto é, a recuperação natural que se observa quando um rio vai baixando depois de uma enchente. Esta alusão bonita a um retorno a um estado mais natural ilustra como o movimento de descrescimento propõe algo bem mais amplo do que simplesmente diminuir a economia.
Hoje em dia, Giorgos Kallis, professor da Universidade Autônoma de Barcelona e que defende essa ideia, propõe um decrescimento baseado em cinco propostas principais:
- um novo acordo verde, isto é, um pacote de propostas econômicas para ajudar a combater as alterações climáticas e as desigualdades socioeconômicas, mas que não se baseie em crescimento total da economia; seria mais para fazer uma distribuição melhor dos recursos entre as pessoas.
- instituir renda e cuidado universal.
- reduzir o número de horas de trabalho.
- ter uma economia baseada em solidariedade.
- mudar o sistema de taxação e impostos atuais.
Marcos: Luiz, o que você acha sobre o movimento de decrescimento econômico?
Luiz Marques: Há alguns indicadores que ocultam esse fato fundamental de que nós já estamos decrescendo.
E nós vamos decrescer cada vez mais. A questão, portanto, não é saber se o conceito de decrescimento é ou não conveniente, se ele deve ou não ser adotado, mas é simplesmente entender que o decrescimento é agora uma realidade absolutamente inexorável e irreversível. E nós temos que trabalhar no sentido de entender que tipo de decrescimento nós podemos ter. Se é um decrescimento que nós podemos, de alguma maneira, planejar, aceitar e tentar fazer com que ele seja o menos traumático possível. Ou se nós vamos simplesmente sofrer esse decrescimento tentando cada vez mais negar a sua realidade.
E o conceito de decrescimento na sua formulação não é o simétrico oposto do crescimento, é simplesmente uma remodelação, uma remodelagem da maneira como nós entendemos a nossa relação com o meio ambiente. Ela não pegou também porque existe, óbvio, um enorme publicidade, um enorme conceito, propaganda, mídia internacional, as corporações, etc. Trabalharam muito fortemente para, de alguma maneira, desmoralizar esse conceito e associá-lo sempre à ideia de pobreza, à ideia de desemprego, à ideia de desestabilização da sociedade, de guerras, de conflitos social, etc. Nós podemos pensar talvez em outras palavras, outros conceitos, outras formas de dizer essa mesma questão, pós-crescimento, por exemplo, é uma delas, mas eu acho pessoalmente que nós não encontramos ainda uma maneira de formular a questão da maneira que, de uma maneira que seja mais, que tenha um apelo maior para a sociedade. Eu não tenho mais resposta para isso no momento, mas eu acho que as civilizações não ocidentais, talvez tenham muito a nos ensinar em relação a isso.
Marcos: Profissionais conscientes das crises socioambientais da atualidade reforçam que mudanças da economia são necessárias e que não dá para o PIB crescer infinitamente. Mas dão nomes diferentes para isso. Alguns chamam de decrescimento, outros de pós-crescimento e há muitas outras correntes. Além desses, outros movimentos econômicos buscam manter o sistema atual. Exemplos são o ‘desenvolvimento sustentável’ e ‘capitalismo verde’. Luiz, o que você pode nos dizer sobre essas propostas?
Luiz Marques: O desenvolvimento sustentável é um conceito perfeitamente razoável no sentido em que nós podemos entender que uma sociedade se desenvolve de uma maneira sustentável.
Mas esse conceito só tem algum sentido se ele estiver completamente dissociado da ideia de crescimento. Então, desenvolvimento sustentável é um termo que foi cunhado nos anos 80 com relatório Bronsland, etc., mas ele ainda estava, naquele momento, impregnado da ideia de crescimento. E o que é absolutamente fundamental é entender que desenvolvimento sustentável é um conceito na sua origem, ele dizia o quê? Dizia que o desenvolvimento sustentável é aquele momento que compatibiliza as necessidades de hoje com as necessidades de amanhã, da geração atual com as gerações futuras. Não é possível compatibilizar esses dois, essas duas entidades mantendo a ideia de crescimento.
Portanto, desenvolvimento sustentável sim, desde que ele esteja completamente dissociado da ideia de crescimento. Quanto à palavra capitalismo verde, eu acho que ela própria já é ela mesma auto desmoralizante. Quis dizer, a palavra capitalismo contém no seu DNA, na sua gênesis e a ideia de expansão. O capitalismo se define pela reprodução ampliada do capital. Se não houver a reprodução ampliada do capital, não é capitalismo. Ora, não é possível ampliar o ciclo econômico, ser cada vez mais expansivo, e manter e acordo o verde, se nós entendemos por verde, a ideia de que ele tenha uma relação de compatibilidade com o sistema Terra, com a biosfera, com as demais entidades, com as demais espécies assim por diante.
Marcos: Então será que propor a necessidade de alterar a economia baseada no PIB, junto com um maior bem estar da humanidade e preservação da natureza, teria maior aceitação se fossem nomeados de forma diferente? Por exemplo, se tivessem nomes que não fossem associados a “decrescer”? Decrescimento, afinal, é considerado, de forma geral, uma coisa a ser evitada.
Maria Vitória: Quem responde sobre a importância do nome das coisas é uma profissional na área de comunicação de marcas.
Cristina Pens: Meu nome é Cristina Pens, eu sou uma profissional de comunicação. O meu papel específico no Branding, que é uma atividade bastante ampla, tem sido desenvolver e propor para organizações de qualquer segmento, ferramentas de linguagem, estratégias de expressão de marcas que ajudem a impulsionar seus produtos, seus serviços e ideias.
Maria Vitória: Cristina, quando um nome para um produto, ideia ou conceito, não é bom, ou não pega, o que pode ser feito?
Cristina Pens: É comum que as pessoas procurem a Future Brand, a consultoria em que eu atuo, com uma preocupação com o nome da marca. Pode ser o nome de uma empresa, de um serviço, de um produto. Muitas vezes a gente ouve perguntas dos seguintes tipos: “será que o problema é o meu nome? Trocar o nome sem transformar o produto pode soar como uma enganação. O nome precisa ser o resultado de um processo de evolução. Não quero dizer com isso que eu desaconselho toda e qualquer mudança. De forma alguma. Quero dizer que a mudança de identidade, especialmente para marcas cuja percepção está consolidada na mente das pessoas, precisa ser feita com muita intenção. Ela é uma mudança das mais radicais. Quando a empresa está começando, o produto está sendo lançado, é mais fácil tomar essa decisão. Não sei se vocês sabem que o Google teve outro nome antes de ser Google. Os fundadores decidiram mudar e essa foi uma ótima ideia, na minha opinião. O nome era Backrub, que significa, literalmente, “massagem nas costas”, numa alusão ao conceito de backlinks, um conceito de tecnologia. Eu não poderia afirmar que o Backrub não chegaria onde chegou com esse nome, mas talvez esse fosse de fato um obstáculo. Foi uma boa decisão mudar.
Maria Vitória: Falaremos agora, com a especialista em cognição humana, Sabine Pompeia, docente da Universidade Federal de São Paulo. Ela nos ajuda a entender o papel das palavras na formação de nossas ideias e pensamentos. Sabine, como as palavras influenciam a maneira como entendemos as coisas?
Sabine Pompeia: As palavras, elas têm um sentido compartilhado entre as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa, porque elas influenciam como as pessoas interpretam o que a gente disse, ou que a gente escreveu. Porque elas influenciam as pessoas que estão do lado receptor do que a gente fala e a gente lê de uma forma que elas não percebem. Então dependendo da palavra que a gente usa as pessoas pulas a conclusões automaticamente, sem identificar porque elas estão fazendo aquela interpretação do que a gente disse. Por exemplo, eu posso chamar uma substância de agrotóxico. Então um sentido comum que é compartilhado entre as pessoas sobre agrotóxicos é que eles são coisas que matam insetos. Além disso, tem outra influência ali. O começo da palavra é “agro”, que significa coisas associadas à agricultura, plantar, colheita, essas coisas, que são boas. Mas a segunda parte da palavra, ‘tóxico’, dá uma má impressão. Tóxico não é uma coisa muito boa. Então, para evitar que as pessoas tivessem uma reação negativa à palavra agrotóxico, tentaram mudar essa palavra para ‘fitossanitários’; para aumentar a aceitação das pessoas, sabe? Para as pessoas não pensarem automaticamente numa coisa ruim quando ouviam essa palavra. Só que fitossanitário não pegou. Não é à toa, né? Não tem coisas muito boas associadas a sanitários, né? Então tentaram outra palavra. Tentaram agora começar a usar mais fortemente a palavra ‘defensivos agrícolas’. Pô, defensor é bom. Ajuda a colheita. Isso é uma coisa obviamente ótima. Só que papo furado, né gente? O certo mesmo é chamar agrotóxicos de agro-veneno. Venenos são substâncias que fazem mal. Matam insetos, fazem mal para o meio ambiente, fazem mal para outros animais também, inclusive seres humanos.
Maria Vitória: O que mais, além do nome, pode ajudar a passar uma impressão melhor sobre uma ideia? Perguntamos sobre isso para a Cristina Pens.
Cristina Pens: Há muitos outros elementos em jogo. A identidade visual, fotografia, histórias que são contadas, símbolos que são valorizados.
Se a gente precisa aprender um conceito complexo, ou que vai exigir grande esforço, o segredo é simplificar, ou, tornar tudo mais atraente usando símbolos, metáforas, imagens, histórias, narrativa, palavra que está muito na moda hoje em dia. Vale trazer um exemplo de comunicação pública aqui. Parece tão óbvia, né, quase banal, a necessidade de algumas vezes na vida sair de casa para tomar uma vacina. Ou levar os filhos para tomar. Mas não é assim para todo mundo. E é por isso que não basta desenvolver e meramente oferecer uma vacina. É fundamental fazer campanha, criar um personagem como o Zé Gotinha, por exemplo. Tudo que for preciso para vencer resistências, para convencer. Adoro esse verbo que parece dizer vencer juntos, com-vencer. Veja, a gente não vence resistências com coisas que apenas não incomodam ninguém. Precisa ser atraente, mobilizador.
Em resumo, é preciso gerar impacto e engajamento. Isso passa por escolher bem as palavras, aquelas que vão convencer; passam por trazer novos sentidos para uma palavra ou um conceito já estabelecido por adicionar camadas de significado usando todas as ferramentas que a comunicação nos disponibiliza: imagens, sons, figuras, símbolos
Marcos: Então será que existem imagens que poderiam ajudar as pessoas a entenderem e aceitarem a ideia de que precisamos mudar a economia atual para um modelo mais igualitário de sociedade, que seja mais equilibrado com a natureza? Vamos dar dois exemplos. Primeiro, vamos ouvir o que a pesquisadora Sabine Pompeia diz sobre isso.
Sabine Pompeia: Olha, imagens, elas ajudam muito as pessoas a entenderem conceitos, às vezes até mais que palavras. Quando a gente ainda combina uma palavra com uma imagem, o entendimento é maximizado, é mais fácil passar uma nova ideia para as pessoas. Quando eu fui estudar imagens boas para representar conceitos eu deparei com uma analogia visual que eu achei maravilhosa que ilustra, de uma forma bem simples, o que seria necessário para a humanidade fazer para que a nossa sociedade conseguisse atingir um status melhor em termos de diminuição de desigualdade e mais equilibrada em relação ao meio ambiente.
É uma imagem que foi proposta por uma economista inglesa chamada Kate Raworth. Ela propôs uma ideia chamada “doughnut economics” e tinha uma ilustração que vai junto. “Doughnuts” que a gente chama aqui no Brasil de sonhos. Só que, por aqui, sonhos têm um formato de uma bolinha, tipo um pão de queijo grande. Nos Estados Unidos é diferente, os sonhos têm uma forma de rosquinha, maior que uma rosquinha, mas tipo elas.
Então deixa eu explicar essa ideia e como ela está associada a essa imagem. Imagine um círculo. O centro deste círculo representa o pior em termos de desigualdade social possível: quando as pessoas estariam bem no centro deste círculo não teriam comida, onde morar, problemas de saúde, ou coisas do gênero. Agora, a parte externa desse círculo representaria o limite planetário, o limite dos recursos naturais disponíveis na Terra. Então esta pesquisadora, essa economista, propôs que o mundo ideal seria aquele em que toda a humanidade estivesse concentrada na parte de fora desse círculo, com o centro dele vazio. Então, as pessoas teriam que ocupar esse espaço que representa uma rosquinha. Isto estaria dentro dos limites planetários, em termos ambientais, e também sem ninguém estar ocupando essa porção que estaria associada à extrema pobreza.
Maria Vitória: Sabine, como uma maior aceitação de mudança do modelo econômico neoliberal poderia se valer do poder dessa imagem da rosquinha?
Sabine Pompeia: Essa ideia muito bonita, né, essa coisa da rosquinha, ajuda a gente a entender esta questão do que é social e o que é ambiental, mas a gente não pode sair por aí chamando isso de economia da rosquinha, que não vai pegar, nem economia da câmara de pneu, que também não vai. Economia “doughnut” também não funciona muito bem porque “doughnuts” tem esse formato muito específico nos Estados Unidos, fica uma coisa muito centrada nesses países desenvolvidos, né? Então, a despeito disso, a ideia desta economista é completamente ‘da hora’ e achei isso muito legal. Esse modelo visual ajuda muito a entendê-lo, então será que a gente não poderia achar talvez uma outra terminologia, um outro nome para explicar melhor esse conceito?
Maria Vitória: A Sabine explicou para a gente que outra ideia parecida essa do doughnut economics é a de economia circular, que também pode ser representada graficamente como um círculo fechado, que inclui desde a produção até a reciclagem completa dos resíduos, como lixo e poluição. Só que a ideia convencional de economia circular não descarta promover crescimento pela introdução de um setor econômico que seja responsável por melhor tratar os resíduos. Ou seja, economia circular não necessariamente considera os limites dos recursos naturais.
Perguntamos também para a Juliana Vicentini se ela conhecia outra imagem que poderia ajudar a mostrar para as pessoas que o sistema capitalista atual está desvinculado do equilíbrio com os recursos naturais.
Juliana Vicentini: Eu gosto muito da proposta da Hazel Henderson. Eu te convido a imaginar o sistema econômico a partir de um bolo. Sabe o bolo de casamento, aquele que possui várias camadas? Comecemos de cima para baixo. A cobertura é o setor privado. A camada logo abaixo da cobertura é o setor público que fornece saúde, educação, moradia e infraestrutura. Ambas são mensuradas a partir de métricas monetárias, sujeitas a um preço, a um valor. Na sequência, nós temos a camada do meio que podemos chamar de economia do amor. Ela contempla a sociedade do cuidado, ou seja, os serviços domésticos, como cozinhar, limpar, lavar, passar, cuidar da família e os serviços voluntários, que predominantemente são realizados por mulheres. Eles são essenciais, mas diferentemente dos setores privado e público, não são contabilizados e valorizados pelo mercado. Chegamos na parte mais importante do nosso bolo: a base. A economia baseia-se justamente naquilo que não possui valor agregado, mas que é extremamente essencial: os recursos naturais. A partir do momento que a economia se esquece do uso racional e da valorização da base do bolo, todo o resto simplesmente desmorona! Ou melhor dizendo, o sistema econômico entra em colapso, trazendo consigo a crise financeira, a inflação, o empobrecimento das pessoas e assim por diante. Sem uma base fortalecida, que é a natureza, surge a impossibilidade de crescimento exponencial como conhecemos hoje que sobrecarrega e destroi os recursos naturais. É dessa maneira que o mundo está estruturado: em camadas de bolo.
Maria Vitória: Vimos aqui que existe muita resistência em aceitar a ideia de que mudanças são necessárias no sistema econômico neoliberal, qualquer que seja o modelo econômico alternativo, seja decrescimento, seja pós-crescimento, ou seja economia doughnut (aquela da rosquinha).
Marcos: Mesmo que talvez precisem de um rebranding, todas essas vertentes alternativas defendem coisas parecidas. Defendem que é necessário que a economia caiba dentro dos limites planetários e que seja mais igualitária do ponto de vista social.
Por trás dessa resistência em aceitar essas visões alternativas está a ideia fixa de que a economia não pode funcionar sem se basear num PIB que cresce ano a ano. Essa ideia fixa faz as pessoas acharem que essas alternativas são ingênuas e utópicas.
Maria Vitória: Mas os ideais capitalistas neoliberais, que são aceitos por todos hoje em dia, são tão utópicos quanto. Afinal, é impossível ter uma economia baseada em PIB crescente num mundo com recursos naturais limitados. Não percebemos isso por que, por décadas, tem havido muito investimento capitalista no branding dessa ideia.
Marcos: Kenneth Boulding, um economista, educador, filósofo e ativista pela paz, resume bem esta questão. Ele disse que “quem acredita que o crescimento exponencial pode durar para sempre num mundo finito, ou é louco ou é um economista”. Achamos que ele se referia especificamente aos economistas neoliberais ortodoxos, e não aos poucos economistas que estão tentando quebrar este paradigma.
Maria Vitória: Este episódio foi produzido como uma atividade para as disciplinas Oficina de Multimeios e Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, das professoras Simone Pallone e Rosana Corazza, durante o curso de Jornalismo Científico do Laboratório em Estudos Avançados em Jornalismo, da UNICAMP. O roteiro é de autoria de Sabine Pompeia e Juliana Vicentini. A narração foi feita por mim, Maria Vitoria de Jesus, e Marcos Ferreira. A edição ficou a cargo de Rogério Bordini e Rafael Brandão. Beijos e até mais.